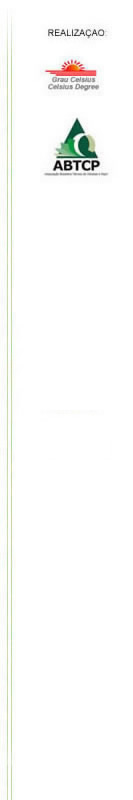
Editorial
Bom dia a todos vocês que nos honram com sua leitura e atenção,
Amigos, aqui estamos com o número 37 da nossa Eucalyptus Newsletter. Esperamos que essa edição esteja de seu agrado e interesse, permitindo assim que nossos muitos leitores ganhem mais conhecimentos e entendimentos sobre as florestas plantadas de eucaliptos e sobre seus produtos e serviços, que são de enorme valor para a nossa sociedade.Nessa edição, temos uma série de novidades florestais para vocês. Começamos com a homenagem ao Ano Internacional das Florestas – nada mais justo – se homenageamos a árvore com um dia ao ano, nada melhor que darmos um ano inteiro para as florestas do planeta: 2011 – definido pela Organização das Nações Unidades como o Ano Internacional das Florestas – merecidamente, mas deve ser algo a ser repetido em breve – assim esperamos.
Ora, nada melhor do que homenagear as florestas e também alguns grandes nomes de pessoas que procuram fazer o bem para elas, estudando-as e manejando-as de forma correta e ambientalmente sadia. Por isso, escolhemos algumas pessoas que admiramos para lhes contar algo sobre elas e sobre seus feitos e conquistas. Nosso “Amigo dos Eucalyptus” dessa edição é um grande amigo meu e dos eucaliptos – conhecido e admirado no setor por ter atuado como executivo florestal por inúmeros anos, sempre valorizando o conhecimento e a inovação para a busca contínua da melhoria nas operações silviculturais e da qualidade ambiental das plantações. Trata-se do competente e conceituado engenheiro florestal Manoel de Freitas, cujas conquistas merecem ser compartilhadas com vocês.Temos também a lhes oferecer nessa edição muitos conhecimentos técnicos desenvolvidos sobre as pragas dos eucaliptos pela talentosa pesquisadora da Embrapa Florestas, Dra. Dalva Luiz de Queiroz, uma das maiores autoridades mundiais sobre os psilídeos, importantes insetos-pragas dos eucaliptos em inúmeros países. Conheçam mais sobre essas pragas e sobre a Dra. Dalva na seção Grandes Autores sobre Pragas e Doenças dos Eucaliptos.
Na seção Referências Técnicas da Literatura Virtual selecionamos para sua biblioteca artigos e teses acadêmicas sobre a acácia-negra (Acacia mearnsii) publicadas ou orientadas pelo nosso grande amigo, um dos ícones da silvicultura brasileira - Dr. Mauro Valdir Schumacher, renomado professor da UFSM - Universidade Federal de Santa Maria.
Aproveitei ainda essa edição para lhes trazer o conjunto de capítulos do Eucalyptus Online Book que escrevi ao longo desses últimos quatro anos sobre Resíduos Sólidos no Setor de Celulose e Papel. Acredito que esses capítulos somados trazem a vocês talvez uma das melhores fontes de consultas a nível global sobre esse tema de importância vital para o setor celulósico-papeleiro e florestal. Espero que me possam lhes ser de muita utilidade.
A seção Curiosidades e Singularidades acerca dos Eucaliptos da engenheira agrônoma M.Sc. Ester Foelkel lhes apresenta algo muito útil para ser conhecido sobre os usos da madeira dos eucaliptos: "Vigas de Madeira de Eucalipto para Usos Estruturais na Construção Civil". Trata-se de uma utilização conhecida e crescente desse tipo de madeira, que agrega maior qualidade ambiental às construções, pois a madeira das plantações de eucalipto vem substituindo fortemente as madeiras de espécies nativas brasileiras – algumas delas inclusive já com áreas e exemplares bem mais limitados pelo uso extensivo ao longo dos anos.
Nosso artigo técnico dessa edição continua com reflexões sobre indicadores para aferir e conferir competitividade e sustentabilidade ao setor de base florestal brasileiro, com ênfase na produção de celulose e papel. Dessa vez, completamos a série lhes contando sobre "Princípios, Critérios e Indicadores de Manejo Florestal Sustentável para as Florestas Plantadas". Recordem que já lhes escrevi sobre indicadores de desempenho e produtividade, indicadores de performance ambiental e indicadores sociais para as empresas do setor de celulose e papel. Agora, completamos com os indicadores florestais dedicados para melhorar o nível de sustentabilidade do manejo das florestas plantadas.
É muito importante que vocês naveguem logo e façam os devidos downloadings dos materiais de seu interesse nas nossas referências de euca-links. Muitas vezes, as instituições disponibilizam esses valiosos materiais por curto espaço de tempo; outras vezes, alteram o endereço de referência em seu website. De qualquer maneira, toda vez que ao tentarem acessar um link referenciado por nossa newsletter e ele não funcionar, sugiro que copiem o título do artigo ou evento e o coloquem entre aspas, para procurar o mesmo em um buscador de qualidade como Google, Bing, Yahoo, etc. Às vezes, a entidade que abriga a referência remodela seu website e os endereços de URL são modificados. Outras vezes, o material é retirado do website referenciado, mas pode eventualmente ser localizado em algum outro endereço, desde que buscado de forma correta.
Esperamos que essa edição possa lhes ser muito útil, já que a seleção de temas foi feita com o objetivo de lhes trazer novidades sobre os eucaliptos e que acreditamos possam ser valiosas a vocês que nos honram com sua leitura.
Caso ainda não estejam cadastrados para receber a newsletter e os capítulos do nosso livro online sobre os eucaliptos, sugiro fazê-lo através do link a seguir: Clique para cadastro.Estamos com diversos parceiros apoiadores não financeiros a esse nosso projeto: TAPPI, IPEF, SIF, CeluloseOnline, RIADICYP, TECNICELPA, ATCP Chile, Appita, TAPPSA, SBS, ANAVE, AGEFLOR, EMBRAPA FLORESTAS, EUCALYPTOLOGICS - GIT Forestry, ForestalWeb, Painel Florestal, INTA Concórdia - Novedades Forestales, Papermakers' Wiki, Åbo Akademi - Laboratory of Fibre and Cellulose Technology, Blog do Papeleiro e Blog 1800 Flowers. Eles estão ajudando a disseminar nossos esforços em favor dos eucaliptos no Brasil, USA, Canadá, Chile, Portugal, Argentina, Espanha, Austrália, Nova Zelândia, Uruguai, Finlândia, Bielorússia e África do Sul. Entretanto, pela rede que é a internet, essa ajuda recebida de todos eles coopera para a disseminação do Eucalyptus Online Book & Newsletter para o mundo todo. Nosso muito obrigado a todos nossos parceiros por acreditarem na gente e em nosso projeto.
Conheçam nossos parceiros apoiadores em:
http://www.eucalyptus.com.br/parceiros.html
Obrigado a todos vocês leitores pelo apoio e constante presença em nossos websites. Nossos informativos digitais estão atualmente sendo enviados para uma extensa "mailing list" através da nossa parceira ABTCP - Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel, o que hoje está correspondendo a alguns milhares de endereços cadastrados. Isso sem contar os acessos feitos diretamente aos websites www.abtcp.org.br; www.eucalyptus.com.br e www.celso-foelkel.com.br, ou ainda pelo fato dos mesmos serem facilmente encontrados pelas ferramentas de busca na web. Nossa meta a partir de agora é muito clara: estar com o Eucalyptus Online Book & Newsletter sempre na primeira página, quando qualquer pessoa no mundo, usando um mecanismo de busca tipo Google, Yahoo ou Bing, pesquisar algo usando a palavra Eucalyptus. Com isso, poderemos informar mais às partes interessadas sobre os eucaliptos, com informações relevantes e de muita qualidade e credibilidade. Por isso, peço ainda a gentileza de divulgarem nosso trabalho àqueles que acreditarem que ele possa ser útil. Nós, a Grau Celsius e a ABTCP, juntamente com os parceiros apoiadores, ficaremos todos muito agradecidos.Um abraço a todos e boa leitura. Esperamos que gostem do que lhes preparamos dessa vez.
Celso Foelkel
http://www.celso-foelkel.com.br
http://www.eucalyptus.com.br
http://www.abtcp.org.br
Nessa Edição da Eucalyptus Newsletter
Capítulos do Eucalyptus Online Book sobre Resíduos Sólidos no Setor de Celulose e Papel
Ano Internacional das Florestas
Os Amigos do Eucalyptus – Engenheiro Florestal Manoel de Freitas
Artigo Técnico por Celso Foelkel
Princípios, Critérios e Indicadores de Manejo Florestal Sustentável para as Florestas Plantadas
![]()
Capítulos do Eucalyptus Online Book sobre Resíduos Sólidos no Setor de Celulose e Papel
Em toda minha carreira de pesquisador tecnológico, e depois, quando mergulhei em consultoria técnica para as fábricas de celulose e papel (e suas florestas plantadas), sempre estive trabalhando em temas ambientais. Qualquer um que se especialize em ecoeficiência e produção mais limpa tem foco constante em desperdícios, retrabalhos e resíduos. Isso eu tenho feito desde meus tempos de Riocell (hoje Celulose Riograndense), a partir do final da década dos anos 70’s. Em função da enorme experiência acumulada (mais de 35 anos) nesse tema, decidi repartir a mesma com os técnicos do nosso setor de celulose e papel e me dediquei a escrever capítulos do Eucalyptus Online Book, tratando da gestão de resíduos, seja na área industrial, como florestal. Acredito que consegui compor uma coleção de muito valor (assim espero) como guia de ação e também para muita reflexão de nossos leitores. Caso ainda não conheçam essa coleção, ou tenham apenas um ou outro desses capítulos, decidi colocar todos juntos para facilitar o acesso online dos mesmos. Espero sinceramente que eles possam ser de muita utilidade a vocês.
Conheçam, portanto, nossa modesta contribuição a essa importante fonte de oportunidades para nossas fábricas e florestas:
Resíduos sólidos industriais da produção de celulose kraft de eucalipto - Parte 01: Resíduos orgânicos fibrosos. Celso Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 05. 78 pp. 8.8 MB. (2007)
http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/PT05_residuos.pdfEcoeficiência na gestão da perda de fibras de celulose e do refugo gerado na fabricação do papel. Celso Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 06. 97 pp. 8.3 MB. (2007)
http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/PT06_fibras_refugos.pdfGestão ecoeficiente dos resíduos florestais lenhosos da eucaliptocultura. Celso Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 07. 49 pp. 6.6 MB. (2007)
http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/PT07_residuoslenhosos.pdfResíduos sólidos industriais do processo de fabricação de celulose e papel de eucalipto. Parte 02: Fatores de sucesso para seu gerenciamento. Celso Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 13. 128 pp. 13.5 MB. (2008)
http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT13_Residuos02.pdfResíduos sólidos industriais do processo de fabricação de celulose e papel de eucalipto. Parte 03: Lodos & lodos. Celso Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 20. 191 pp. 10.1 MB. (2010)
http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT20_LODOS.pdfResíduos sólidos industriais do processo de fabricação de celulose e papel de eucalipto. Parte 04: "Casca suja". Celso Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 21. 101 pp. 11.5 MB. (2010)
http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT21_CascaSuja.pdfResíduos sólidos industriais do processo de fabricação de celulose kraft de eucalipto. Parte 05: Resíduos minerais. Celso Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 25. 174 pp. 8.3 MB. (2010)
http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT25_ResiduosMinerais.pdf


Ano Internacional das Florestas
O ser humano sempre teve afinidade e até mesmo paixão pelas florestas. Sempre tivemos uma ligação não apenas de interesse e curiosidade, mas de admiração e de forte ligação sentimental com elas. Afinal, foram as florestas que abrigaram e deram sustento aos nossos ancestrais primitivos. Entretanto, ao mesmo tempo em que apreciamos e dedicamos afeição pelas árvores, precisamos consumir os produtos das florestas. Em virtude do aumento populacional desenfreado e das necessidades de suprir as necessidades crescentes de cada vez mais pessoas no planeta, as florestas passaram a serem consumidas vorazmente e com isso, grandes reservas naturais foram e estão sendo destruídas a cada dia que passa. Entretanto, há ainda muitos remanescentes florestais e a cultura ambiental que existe hoje nos cidadãos e nas empresas de base florestal é bem distinta daquela extrativista de algumas décadas atrás. Há um futuro bom nos aguardando e não um desastre ecológico irremediável. Disso eu tenho certeza. Em minha opinião, existe não apenas uma luz ao final do túnel, mas uma floresta iluminada de alta biodiversidade, cheia de árvores, fauna, flora e muitas riquezas naturais. Entretanto, um trabalho duro será necessário para se atingir isso.
Com a finalidade de aumentar o respeito e a conscientização dos humanos em relação às florestas, a ONU - Organização das Nações Unidas decidiu fazer uma homenagem para elas na forma de uma campanha a nível global. O objetivo foi muito claramente desenhado: conscientizar os cidadãos do planeta para a proteção, o respeito e o manejo sustentável de nossas florestas. A sustentabilidade florestal é necessária inclusive para garantia da sustentabilidade dos humanos, já que existe íntima interação entre esses componentes da Natureza.
Para tentar impedir o avanço do desmatamento, a Assembleia Geral da ONU declarou o ano de 2011 como o AIF - Ano Internacional das Florestas, convidando os governos das inúmeras nações, o sistema das Nações Unidas, o setor privado, as ONG’s – Organizações Não Governamentais e todos os cidadãos a se engajarem no esforço para proteger e respeitar as florestas. Recomenda-se um esforço conjunto a nível global para a adoção do Manejo Florestal Sustentável para todos os tipos de florestas, sejam as de proteção e as de interesse industrial, sejam florestas naturais como florestas plantadas. A ideia não é apenas a conservação pura e simples, mas o uso dos benefícios que as florestas podem oferecer aos humanos, sem que isso signifique agressão ou impactos negativos à biodiversidade, aos solos e às águas, ao ar e a todos os demais componentes desses ecossistemas.
O resultado tem sido absolutamente fantástico - foi enorme a adesão de praticamente todos os governos e de uma grande quantidade de empresas privadas e públicas, associações de classe, institutos de pesquisas, ONG’s, celebridades, etc. Em quase todos os pontos do planeta tem sido possível se encontrar o logo característico e comemorativo do AIF: uma arte singela e singular, incluindo em um desenho de uma árvore todas as riquezas naturais representadas pela flora, fauna, clima, gente e atividades econômicas de nossa sociedade.
No Brasil, o AIF foi bastante comemorado pelas instituições públicas, de pesquisa, associações de classe e empresas de base florestal. Inclusive, o setor brasileiro de celulose e papel tem sido um dos setores que mais mostrou adesão e que está destacando e promovendo fortemente as florestas brasileiras.
O Brasil é considerado como um dos principais celeiros florestais do planeta, tanto pela extensa área de florestas naturais que possui em seus diferentes biomas (Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, etc.) bem como pelas florestas plantadas de altíssima produtividade e em sua maior parte com certificação florestal.
Para que vocês possam conhecer mais sobre o Ano Internacional das Florestas e sobre as florestas do Brasil e do Planeta Terra, recomendamos que naveguem na seleção de artigos e websites que separamos para vocês. Inclusive, recomendamos que baixem para sua biblioteca virtual dois livros de excepcional valor e que espelham a situação florestal do mundo (2011 - State of the world’s forests, da FAO – Food and Agriculture Organization) e do Brasil (Florestas do Brasil em resumo 2010: dados de 2005 – 2010, do Serviço Florestal Brasileiro). Leiam com atenção e guardem esses dois documentos para comparações futuras. Na próxima edição do AIF, poderemos visualizar as alterações, que esperamos nos indiquem que a conscientização funcionou ou que começou a funcionar. Entretanto, conscientização não se consegue só com uma campanha curta de um ano. Há muito mais a ser feito.
Conto, portanto, com a ajuda de vocês, para que colaborem nessa campanha para um mundo melhor, mais rico em florestas e com pessoas e empresas ambientalmente mais ecoeficientes e ambientalmente responsáveis.
Precisamos das florestas, mas elas dependem muito mais de nós, não apenas de nossa conscientização, mas principalmente de nossas ações e atuações para garantir a elas os adequados níveis de proteção e de manejo florestal com sustentabilidade.
Sugestão de leituras relativas ao Ano Internacional das Florestas
É muito importante que vocês naveguem logo e façam a leitura dos materiais de seu interesse. Muitas vezes, as instituições disponibilizam esses valiosos materiais por curto espaço de tempo ou então alteram os endereços de URL devido a modernizações em seus websites.
United Nations Celebrating Forests for People. International Year of Forests. Acesso em 21.11.2011:
http://www.un.org/en/events/iyof2011/
http://www.un.org/en/events/iyof2011/videos.shtml (Vídeos sobre o Ano Internacional das Florestas)
http://www.un.org/en/events/iyof2011/photographs.shtml (Galeria de fotos)
http://www.un.org/en/events/iyof2011/logo.shtml (Logos comemorativos ao evento)2011: Um Ano Internacional das Florestas. Ministério do Meio Ambiente. Governo do Brasil. Acesso em 21.11.2011:
http://www.anodafloresta.com.br/p/sobre.html
http://www.anodafloresta.com.br/p/florestas-br.html (Florestas do Brasil)
http://www.anodafloresta.com.br/p/floresta-e-voce.html (A floresta protege você)UNEP Forests. United Nations Environment Programme. Acesso em 21.11.2011:
http://www.unep.org/forests/International Year of Forests 2011. FAO – Food and Agriculture Organization. Acesso em 21.11.2011:
http://www.fao.org/forestry/iyf2011/en/
http://www.fao.org/forestry/iyf2011/toolkit/en/ (Caixa de ferramentas para comunicadores)
http://www.youtube.com/watch?v=5Qjby6uLAic (Vídeo comemorativo)Ano Internacional das Florestas. Florestas na Embrapa. Acesso em 21.11.2011:
http://www.florestasnaembrapa.com.br/ano-internacional-florestasAno Internacional das Florestas. Governo de Portugal. Acesso em 21.11.2011:
http://www.florestas2011.org.pt/Ano Internacional das Florestas. E. Carvalhaes. Website SouAgro. Acesso em 21.11.2011:
http://souagro.com.br/elizabeth-de-carvalhaes-ano-internacional-das-florestasFlorestas plantadas: grandes aliadas do planeta. BRACELPA - Associação Brasileira de Celulose e Papel. Vídeo em Português. Acesso em 21.11.2011:
http://www.bracelpa.org.br/bra2/?q=node/344
http://www.youtube.com/watch?v=zAIoWq7L6iM&feature=relatedPlanted forests: vital allies of the planet. BRACELPA - Associação Brasileira de Celulose e Papel. Vídeo em Inglês. Acesso em 21.11.2011:
http://www.bracelpa.org.br/bra2/?q=en/node/422Plantar florestas é proteger o planeta. BRACELPA - Associação Brasileira de Celulose e Papel. Acesso em 21.11.2011:
http://www.bracelpa.org.br/bra2/sites/default/files/emkt/floresta.htmInternational Year of Forests. Canal Futura. Vídeos YouTube. Acesso em 21.11.2011:
http://www.youtube.com/watch?v=ORkjLFvcwco (“Headpiece” em Inglês)
http://www.youtube.com/watch?v=3zGXozRWdOY (Vinheta em Português)Celebrating 2011 – International Year of Forests in Australia. yForests. Acesso em 21.22.2011:
http://www.internationalyearofforests.com.au/Gisele Bünchen lança vídeo sobre Ano Internacional das Florestas. Website Planeta Sustentável. Acesso em 21.11.2011:
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticias/gisele
-bundchen-video-ano-florestas-dia-amazonia-639032.shtml
e
http://www.youtube.com/watch?v=xjM70vCdPrc (Vídeos YouTube)O Brasil e o Ano Internacional das Florestas. F. Barbosa. IPADES - Instituto de Pesquisa Aplicada em Desenvolvimento Econômico Sustentável. 04 pp. Acesso em 21.11.2011:
http://www.ipades.com.br/artigos/IPADES-O-BRASIL-E-O
-ANO-INTERNACIONAL-DAS-FLORESTAS.pdfState of the world’s forests. FAO – Food and Agriculture Organization. Forestry Department. 179 pp. (2011)
http://www.fao.org/docrep/013/i2000e/i2000e.pdf
http://www.fao.org/forestry/sofo/en/ (Outras edições prévias)Forest products. Annual market review 2010/2011. D. Clark. UNECE – United Nations Economic Commission for Europe / FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations. 174 pp. (2011)
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/publications/timber/FPAMR_2010-2011_HQ.pdf2011 is the International Year of Forests. BRACELPA BR Pulp & Paper News. pp. 01. (2011)
http://www.bracelpa.org.br/bra2/sites/default/files/brppn/BRP&PN-005.pdfBRACELPA adere ao “Ano Internacional das Florestas”. BRACELPA – Associação Brasileira de Celulose e Papel. (2011)
http://www.bracelpa.org.br/bra2/?q=node/428Ano Internacional das Florestas. International Year of Forests. E. Carvalhaes. O Papel (Março): 16 – 17. (2011)
http://www.revistaopapel.org.br/noticia-anexos/1302091603_
836041ed67a92a8af2c3e623a9898fb1_1390908626.pdfFlorestas do Brasil em resumo 2010: dados de 2005 – 2010. Serviço Florestal Brasileiro. 152 pp. (2010)
http://www.mma.gov.br/estruturas/sfb/_arquivos/livro_de_bolso___sfb_mma_2010_web_95.pdf
e
http://www.ciflorestas.com.br/arquivos/doc_florestas_resumo_22648.pdf
Grandes Autores sobre Pragas e Doenças dos Eucaliptos
Artigos Eucalípticos de Autoria da Dra. Dalva Luiz de Queiroz
Dra. Dalva Luiz de Queiroz é uma das mais talentosas e produtivas pesquisadoras sobre insetos-pragas em eucaliptos no Brasil. Suas inúmeras pesquisas e trabalhos publicados sobre modelos de dispersão, gestão do risco, avaliações entomológicas, interações insetos/plantas, condições do meio, controle de pragas, manejo integrado de pragas, indução de resistência, etc. etc., têm colaborado marcantemente para o melhor entendimento e para a prevenção e combate de algumas pragas bastante danosas aos eucaliptos, através de inovadoras técnicas de manejo integrado em termos de fitossanidade florestal. Suas preferência e especialização recaem sobre os insetos da família Psyllidae, conhecidos vulgarmente como psilídeos, entre os quais o renomado e perigoso psilídeo-de-concha do eucalipto.
Dra. Dalva nasceu em Patos de Minas/MG, em 1961. Graduou-se em Engenharia Florestal pela UFV – Universidade Federal de Viçosa (1985), tendo logo a seguir obtido seu mestrado na mesma universidade (1988). Sua pesquisa de mestrado foi focada em formigas cortadeiras em eucaliptos e teve como título “Resistência de Eucalyptus spp. às formigas cortadeiras Atta sexdens rubropilosa e Atta laevigata (Hymenoptera: Formicidae)”, tendo como orientador o renomado professor Dr. Renato Mauro Brandi. Seu doutoramento foi obtido em 2003, na Universidade Federal do Paraná, também na área de concentração de Entomologia Florestal, sob a orientação da Dra. Keti Maria Rocha Zanol. A pesquisa que realizou foi bastante ampla e foi dedicada à espécie de inseto-praga Ctenarytaina spatulata (psilídeo-dos-ponteiros do eucalipto), uma das principais espécies de psilídeos de atacam plantações de eucaliptos no Brasil. Seus resultados e conclusões ajudaram a entender a morfologia, dinâmica populacional, resistência e danos causados em Eucalyptus grandis. A tese de título “Ctenarytaina spatulata Taylor, 1997 (Hemiptera: Psyllidae): morfologia, biologia, dinâmica, resistência e danos em Eucalyptus grandis Hill. ex Maiden” nos foi cedida no formato digital pela Dra. Dalva e com isso, pudemos colocar a mesma disponível para o grande público interessado nessa importante praga. Ela poderá ser encontrada mais abaixo em nossa edição que homenageia as conquistas científicas da Dra. Dalva de Queiroz.
Recentemente, a Dra. Dalva concluiu seu pós-doutorado na Curtin University of Technology (http://www.curtin.edu.au), na Austrália, tendo realizado estudos e pesquisas sobre Entomologia Florestal, especialmente com o psilídeo-de-concha. Seu trabalho de pesquisa na Austrália teve como título: “Predicting the geographical distribution of Glycaspis brimblecombei”, cujo objetivo foi de desenvolver modelagem para predição da distribuição e dispersão desse psilídeo.
Atualmente, Dalva é pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Florestas, em Colombo/Paraná, trabalhando com fitossanidade e proteção florestal, com ênfase em temas de entomologia florestal. Seu Curriculum Vitae, publicado na Plataforma Lattes do CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pode ser visto com grande riqueza de informações em:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785956Z2
Questionamos a Dra. Dalva sobre o que ela achava sobre o atual estado-da-arte da proteção florestal no Brasil, envolvendo os eucaliptos. Afinal, nosso país deposita grandes expectativas para o crescimento da área plantada com eucaliptos para abastecer indústrias em franco crescimento, tais como celulose e papel, mobiliário, painéis de madeira, agro-energia renovável, etc.
Dra. Dalva nos respondeu prontamente com as seguintes e sábias considerações:
"O eucalipto é um gênero de árvores nativo da Austrália, de rápido crescimento e múltiplos usos. Estas propriedades tornam o mesmo em uma das árvores mais plantadas em todo o mundo. O Brasil possui condições favoráveis ao cultivo do eucalipto e, as diferentes espécies deste gênero são plantadas de norte a sul no nosso país, com uma área de mais de 4,75 milhões de hectares (e crescente). À medida que os plantios foram aumentando, os problemas com pragas começaram a se agravar. A presença de espécies nativas da família Myrtaceae, hospedeiras de abundante fauna entomológica, facilitou o estabelecimento de pragas relacionadas a essa cultura. Além disso, tem-se verificado um progressivo aumento na entrada de pragas exóticas, observado desde a década de 50, com a detecção de Phoracanta sp. e Gonipterus spp.
Um grupo ainda pouco conhecido no Brasil, porém muito frequente na Austrália é formado pelos insetos da família Psyllidae, que chegaram a nosso território na década de 90, contando atualmente com quatro espécies: Ctenarytaina spatulata, Ctenarytaina eucalypti, Blastopsylla occidentalis, e Glycaspis brimblecombei. Essa última, introduzida em 2003, causou grandes perdas de produtividade das florestas em Minas Gerais e São Paulo, atingindo inclusive clones comerciais altamente produtivos.
Outra espécie exótica Epichrysocharis burwelii foi detectada no Brasil em 2004, atacando Corymbia citriodora, e em 2008 duas novas introduções têm causado grandes preocupações aos silvicultores: o percevejo-bronzeado-do-eucalipto (Thaumastocoris peregrinus) (Hemiptera: Thaumastocoridae) e a vespa de galha (Leptocybe invasa) (Hymenoptera: Eulophidae).
Além dos insetos mencionados, outras pragas que atacam o eucalipto têm grande potencial de serem introduzidas e causarem danos, sendo que algumas delas já estão em outros países e podem chegar ao Brasil rapidamente. Dentre elas podem ser citadas:
Ophelimus spp. - introduzido no Chile, Espanha, Irã, Marrocos, Itália, Quênia e Uganda. Ataca nesses países principalmente E. globulus, e E. camaldulensis.
Chilecomadia valdiviana Lep. Cossidae - é um inseto broqueador, nativo do Chile e Argentina, com uma grande faixa de hospedeiros, dentre eles E. nitens, E. camaldulensis e E. gunnii.
Xyleutes magnifica (Lepidoptera: Cossidae) - espécie nativa da Austrália e ataca vários hospedeiros.
Além desses, várias espécies de insetos da superfamília Psylloidea são pragas na Austrália, tais como: Creiss costatus, C. corniculatus, Cardiaspina fiscella, C. densitexta e C. retator. Se estes insetos entrarem no Brasil poderão causar grandes danos, principalmente porque eles atacam E. grandis, E. saligna e E. urophylla, que são os principais componentes da base genética dos clones plantados no Brasil.
A dispersão dos insetos-pragas é facilitada pelas extensas áreas clonais em plantios homogêneos distribuídos por todo o país. Desta forma, o monitoramento de pragas é fundamental para a detecção precoce de novas pragas e tomadas de decisão quanto às medidas de controle. Novas metodologias de monitoramento, vigilância e predição são ferramentas que estão sendo aprimoradas para a previsão de expansão e riscos e danos destas pragas".
Agradecemos à Dra. Dalva de Queiroz por ter atendido tão pronta e atenciosamente nossas solicitações para que pudéssemos disponibilizar a nossos leitores uma parte de sua vasta produção científica. Elaboramos a seguir uma seleção de literaturas que tiveram a participação da Dra. Dalva como autora ou coautora. Foram cerca de 40 artigos, nos quais vocês poderão navegar e obter cópias a partir dos euca-links disponibilizados. Dra. Dalva Luiz de Queiroz têm também um grande número de artigos publicados e referidos como sendo de autoria de Dalva Luiz de Queiroz Santana (D.L.Q. Santana). Além disso, as pesquisas da Dra. Dalva não se restringem ao eucalipto, mas abrangem muitas outras espécies e gêneros florestais, como Pinus, Acacia, Tabebuia, Enterolobium, Bactris, Tipuana, Grevilea, Araucaria, Ilex, Toona, Cocos, Piptadenia, Psidium, Euterpe, Leucaena, etc. Também possui inúmeros trabalhos sobre a biologia (micro-vida) dos solos, com destaque à micro e meso-faunas. Fizemos uma seleção mais dedicada aos artigos eucalípticos para estar em conformidade aos objetivos dessa presente newsletter, mas vocês podem encontrar muitos outros trabalhos dessa notável pesquisadora com outros gêneros e mesmo com os eucaliptos (e que não foram aqui incluídos).
Seleção de artigos eucalípticos da Dra. Dalva Luiz de Queiroz e sua equipe de pesquisas**
**Imagem do psilídeo adulto Blastopsylla occidentalis, cedida pela Dra. Dalva Luiz de QueirozÉ muito importante que vocês naveguem logo e façam a leitura dos materiais de seu interesse. Muitas vezes, as instituições disponibilizam esses valiosos materiais por curto espaço de tempo ou então alteram os endereços de URL devido a modernizações em seus websites.
Também é possível encontrar a admirável produção científica da Dra. Dalva e de quaisquer das centenas de pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária no website especializado para a produção científica e tecnológica da Embrapa:
http://www.prodemb.cnptia.embrapa.br/busca.jsp.Ao se pesquisar pela pesquisadora D.L. de Queiroz e D.L.Q. Santana são encontradas as seguintes citações, para as quais sugiro uma criteriosa navegação para máximo proveito:
http://www.prodemb.cnptia.embrapa.br/busca.jsp?baseDados=
PRODEMB&unidade=TODAS&fraseBusca="dalva luiz de queiroz"
& registraHistorico=N&formFiltroAction=N&hitsInicial=0&paginaAtual=1
e
http://www.prodemb.cnptia.embrapa.br/busca.jsp?baseDados=
PRODEMB&unidade=TODAS&fraseBusca="dalva luiz de queiroz santana
"& registraHistorico=N&formFiltroAction=N&hitsInicial=0&paginaAtual=1
e
http://www.prodemb.cnptia.embrapa.br/busca.jsp?baseDados=
PRODEMB&fraseBusca=%22SANTANA,
%20D.%20L.%20de%20Q.%22%20em%20AUT
e
http://www.prodemb.cnptia.embrapa.br/busca.jsp?baseDados=
PRODEMB&unidade=TODAS&fraseBusca="queiroz D. L. de"
em AUT®istraHistorico=N&formFiltroAction=N&hitsInicial=0&paginaAtual=1Confiram e aproveitem a leitura, aprendendo com os ensinamentos e descobertas científicas da Dra. Dalva Luiz de Queiroz acerca dos eucaliptos:
Pragas em viveiros de eucalipto. D.L. Queiroz; J.I. Rodriguez Fernandez; J.C. Zanuncio. In: Producao de mudas de eucalipto. Capitulo 5. Embrapa Florestas. 34 pp. (2010)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Pragas%20viveiro%20eucalipto.pdfCultivo do eucalipto. Pragas de importância econômica. L.R. Barbosa; D.L. Queiroz; W. Reis Filho. Sistemas de Produção 4. 2ª Edição. (2010)
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/
FontesHTML/Eucalipto/CultivodoEucalipto_2ed/Pragas.htmCultivo do eucalipto. Manejo integrado de pragas. L.R. Barbosa; D.L. Queiroz; W. Reis Filho. Sistemas de Produção 4. 2ª Edição. (2010)
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/
Eucalipto/CultivodoEucalipto_2ed/Pragas_Manejo.htmCultivo do eucalipto. Controle biológico. L.R. Barbosa; D.L. Queiroz; W. Reis Filho. Sistemas de Produção 4. 2ª Edição. (2010)
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/
Eucalipto/CultivodoEucalipto_2ed/Pragas_Controle.htmFeeding and oviposition preferences of Ctenarytaina spatulata Taylor (Hemiptera, Psyllidae) for Eucalyptus spp. and other Myrtaceae in Brazil. D.L. Queiroz; K.M.R. Zanol; E.B. Oliveira; N. Anjos; J. Majer. Revista Brasileira de Entomologia 54(1): 149-153. (2010)
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/28218/1/a23v54n1.pdf
e
http://www.scielo.br/pdf/rbent/v54n1/a23v54n1.pdf
e
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/860281/1/a23v54n1.pdfRegistro de Glycaspis brimblecombei em Eucalyptus spp., em Petrolina, Pernambuco, Brasil. M.O. Breda; J.V. Oliveira; A.N.M. Carvalho; D.L. Queiroz. Pesquisa Florestal Brasileira 30(63): 253 – 255. (2010)
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/25418/1/160-829-2-PB.pdf
http://www.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/download/160/134Coleoptera, Coccinellidae, Harmonia axyridis (Pallas, 1773): New record in Minas Gerais, southeastern Brazil. M.Q. Rezende; J.L.A. Campos; L.M.B. Coelho; D.L.Q. Santana. Check List - Journal of Species Lists and Distribution. 02 pp. (2010)
http://www.checklist.org.br/getpdf?NGD107-08Resumo: Modelos de distribuição e gestão de risco de insetos-praga de eucalipto no Brasil. R. Zanetti; D.L. Queiroz; E.C. Queiroz; M.C. Garrastazu; B.V. Fernandes; J.I. Rodrigues Fernandez. 23º Congresso Brasileiro De Entomologia. (2010)
http://www.seb.org.br/eventos/CBE/XXIIICBE/verartigo.asp?
cod=P1313&titulo=MODELOS%20DE%20DISTRIBUI%
C7%C3O%20E%20GEST%C3O%20DE%20RISCO%
20DE%20INSETOS-PRAGA%20DE%20EUCALIPTO%20NO%20BRASILResumo: Thaumastocoris peregrinus (Heteroptera: Thaumastocoridae): modelagem ecológica de uma espécie invasora no Brasil. D.L. Queiroz; J.I. Rodriguez Fernandez; R. Zanetti; M.C. Garrastazu; B.V. Fernandes; E.C. Queiroz. 23º Congresso Brasileiro de Entomologia. (2010)
http://www.seb.org.br/eventos/CBE/XXIIICBE/verartigo.asp?
cod=P1252&titulo=%3CI%3ETHAUMASTOCORIS%20PEREGRINUS%
3C/I%3E%20(HETEROPTERA:%20THAUMASTOCORIDAE):
%20MODELAGEM%20ECOL%D3GICA%20DE%20UMA%20
ESP%C9CIE%20INVASORA%20NO%20BRASILDinâmica populacional de Ctenarytaina spatulata (Hemiptera: Psyllidae) em Eucalyptus grandis com novos registros de ocorrência. D.L. Queiroz; K.M.R. Zanol; N. Anjos; D.P. Andrade. Acta Biológica Paranaense 38(3-4): 157 - 178. (2009)
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/acta/article/download/16436/10914
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/32329/1/
Dinamica-populacional-de-Ctenarytaina-spatulata....pdfPragas exóticas e potenciais à eucaliptocultura no Brasil. D.L. Queiroz. 9º Simpósio de Manejo de Doenças de Plantas. In: Manejo Fitossanitário de Cultivos Agroenergéticos. Sociedade Brasileira de Fitopatologia. p. 239-249. (2009)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Pragas%20
exoticas%20e%20potenciais%20a%20eucaliptocultura%20no%20Brasil.pdfAvaliação da resistência de clones de Eucalyptus camaldulensis DEHN ao psilídeo-de-concha Glycaspis brimblecombei Moore (Hemiptera: Psyllidae). J.M.M. Camargo; D.L.Q. Santana; R.A. Dedecek; K.M.R. Zanol; R.C. Melido. I Congresso Brasileiro Sobre Florestas Energéticas. 04 pp. (2009)
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/37866/1/camargo.PDF
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/314663/1/camargo.PDFInfluência do manejo de resíduos da indústria e da colheita de eucalipto na fauna do solo. D.L.Q. Santana; A.F.J. Bellote; H.D. Silva; G.C. Andrade. I Congresso Brasileiro Sobre Florestas Energéticas. 04 pp. (2009)
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/37874/1/santana.PDFResumo: Efeito da aplicação de diferentes fontes e doses de silício, em plantio comercial de Eucalyptus camaldulensis, na indução de resistência a Glycaspis brimblecombei (Moore) (Hemiptera: Aphididae). J.M.M. Camargo; D.L.Q. Santana; K.M.R. Zanol; R.A. Dedecek; C.R. Rodrigues; R.C.N. Melido. XXII Congresso Brasileiro de Entomologia. (2008)
http://www.seb.org.br/eventos/CBE/XXIICBE/resumos/R1073-1.htmlResumo: Efeito da aplicação de silício em plantas de Eucalyptus camaldulensis na indução de resistência ao psilídeo-de-concha Glycaspis brimblecombei (Hemiptera: Psyllidae). D.L.Q. Santana; J.M.M. Camargo; R.A. Dedecek; K.M.R. Zanol; R.C.N. Melido; C.R. Rodrigues. XXII Congresso Brasileiro de Entomologia. (2008)
http://www.seb.org.br/eventos/CBE/XXIICBE/resumos/R1073-2.htmlPsilídeos no Brasil: 3- Blastopsylla occidentalis Taylor, 1985 Hemiptera:Psyllidae. D.L. Queiroz. Comunicado Técnico Embrapa Florestas nº 204. 04 pp. (2008)
http://www.cnpf.embrapa.br/publica/comuntec/edicoes/com_tec204.pdfPsilídeos no Brasil: 2- Ctenarytaina eucalypti (Maskell, 1980) (Psilídeo das ponteiras do eucalipto). D.L. Queiroz. Comunicado Técnico Embrapa Florestas nº 207. 05 pp. (2008)
http://www.cnpf.embrapa.br/publica/comuntec/edicoes/com_tec207.pdfPsilídeo-dos-ponteiros-do-eucalipto – Ctenarytaina spatulata (Hemiptera:Psyllidae). D.L.Q. Santana. Comunicado Técnico Embrapa Florestas nº 185. 04 pp.(2007)
http://www.cnpf.embrapa.br/publica/comuntec/edicoes/com_tec185.pdfResumo: Introduced Eucalyptus psyllids in Brazil. D.L.Q. Santana; D. Burckhardt. Journal of Forest Research 12(5): 337 – 344. (2007)
http://www.springerlink.com/content/x06808512u8v6115/Microvespa-do-eucalipto-citriodora (Corymbia citriodora) - Epichrysocharis burwelli Schauff (Hymenoptera: Eulophidae). D.L.Q. Santana; N. Anjos. Embrapa Florestas. Comunicado Técnico nº 188. 04 pp. (2007)
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/16815/1/com_tec188.pdf
http://www.cnpf.embrapa.br/publica/comuntec/edicoes/com_tec188.pdfBiologia de Ctenarytaina spatulata (Hemiptera, Psyllidae) em Eucalyptus grandis. D.L.Q. Santana; K.M.R. Zanol. Acta Biológica Paranaense 35(1-2): 47 - 62. (2006)
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/acta/article/view/6878/4884Aspectos bionômicos de Glycaspis (Glycaspis) brimblecombei (Moore,1964) (Hemiptera: Psyllidae) e seu controle com fungos entomopatogênicos. R.M. Favaro. Co-orientação: D.L.Q. Santana. Dissertação de Mestrado. UFPR – Universidade Federal do Paraná. 53 pp. (2006)
http://dspace.c3sl.ufpr.br:8080/dspace/bitstream/handle/1884/
4990/dissertacao_rodolfo_marcassi_favaro.pdf?sequence=1Resumo: Introduced Eucalyptus psyllids in Brazil. D.L.Q. Santana. International Forestry Review 7(5): 255. (2005)
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/313438/1/introduced.pdfPsilídeos em eucaliptos no Brasil. D.L.Q. Santana. Circular Técnica Embrapa Florestas nº 109. 14 pp. (2005)
http://www.cnpf.embrapa.br/publica/circtec/edicoes/circ-tec109.pdfMorfologia externa das ninfas e adultos de Ctenarytaina spatulata Taylor (Hemiptera, Psyllidae). D.L.Q. Santana; K.M.R. Zanol. Revista Brasileira de Entomologia 49(3): 340 – 346. (2005)
http://www.scielo.br/pdf/rbent/v49n3/26587.pdfDanos causados por Ctenarytaina spatulata Taylor, 1977 (Hemiptera: Psyllidae) em Eucalyptus grandis Hill. ex Maiden. D.L.Q. Santana; K.M.R. Zanol; P.C. Botosso; P.P. Mattos. Pesquisa Florestal Brasileira 50: 11 – 24. (2005)
http://www.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/download/237/188Impactos ambientais, econômicos e sociais dos danos causados por Ctenarytaina spatulata Taylor (Hemiptera: Psyllidae) em plantios de Eucalyptus grandis no Brasil. H.R. Rodigheri; D.L.Q. Santana. Circular Técnica Embrapa Florestas nº 85. 04 pp. (2004)
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/310488/1/circtec85.pdfMonitoramento dos psilídeos do eucalipto. D.L.Q. Santana. Folder Embrapa Florestas. (2004)
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/
CNPF-2009-09/43181/1/Psilideos_2004.pdfResumo: Glycaspis brimblecombei (Hemiptera: Psyllidae) e seus inimigos naturais no Paraná. D.L.Q. Santana; R.C.Z. Carvalho; R.M. Favaro; L.M. Almeida. XX Congresso Brasileiro de Entomologia. (2004)
http://www.seb.org.br/eventos/CBE/XXCBE/
anais/resumosdeposteres/RESUMOS/resumo_681.htmlResumo: Dinâmica populacional de Ctenarytaina spatulata Taylor, 1997 (Hemiptera: Psyllidae) em Eucalyptus grandis Hill. Ex. Maiden. D.L.Q. Santana; K.M.R. Zanol; R.M. Favaro. XX Congresso Brasileiro de Entomologia. (2004)
http://www.seb.org.br/eventos/CBE/XXCBE/anais/
resumosdeposteres/RESUMOS/resumo_682.htmlResumo: Efeito do manejo do solo e do resíduo da exploração florestal na população de formigas em plantios de Eucalyptus grandis, em São Miguel Arcanjo, SP. R.M. Favaro; D.L.Q. Santana; H.D. Silva; R.A. Dedecek; A,F,J, Bellote; J.L. Gava. XX Congresso Brasileiro de Entomologia. (2004)
http://www.seb.org.br/eventos/CBE/XXCBE/anais/
resumosdeposteres/RESUMOS/resumo_1542.htmlCtenarytaina spatulata Taylor, 1997 (Hemiptera: Psyllidae): morfologia, biologia, dinâmica, resistência e danos em Eucalyptus grandis Hill. ex Maiden. D.L.Q. Santana. Tese de Doutorado. UFPR – Universidade Federal do Paraná. 135 pp. (2003)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Tese_DLQ.pdfO psilídeo-de-concha (Glycaspis brimblecombei) em eucalipto. D.L.Q. Santana; A. Menezes Júnior; H.D. Silva; A.F.J. Bellote; R.M. Favaro. Comunicado Técnico Embrapa Florestas nº 105. 03 pp. (2003)
http://www.cnpf.embrapa.br/publica/comuntec/edicoes/com_tec105.pdfCultivo do eucalipto. Pragas. D.L.Q. Santana. Embrapa Florestas. Sistemas de Produção 4. 1ª Edição. (2003)
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/
Eucalipto/CultivodoEucalipto/06_06_01_controle_biologico_no_brasil.htmCtenarytaina spatulata, Taylor: água no solo, nutrientes minerais e suas interações com a seca dos ponteiros do eucalipto. D.L.Q. Santana; A.F.J. Bellote; R.A. Dedecek. Boletim de Pesquisa Florestal 46: 57 – 68. (2003)
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPF-2009-09/38553/1/pag-57_67.pdf
http://www.cnpf.embrapa.br/publica/boletim/boletarqv/bolet46/pag-57_67.pdf
Resumo: Influência do manejo do solo e do resíduo da exploração florestal na fauna de solo em plantios híbridos de eucalipto em Mogi Guaçu. R. Favaro; D.L.Q. Santana; H.D. Silva; A.F.J. Bellote. I Evento de Iniciação Científica da Embrapa Florestas. (2002)
http://www.cnpf.embrapa.br/publica/seriedoc/edicoes/doc70/final/R031.pdfResumo: First record of an Eriophyid mite from Eucalyptus in Brazil, with a complementary description of Rhombacus eucalypti Ghosh and Chakrabarti (Acari: Eriophyidae). C.A.H. Flechtmann; D.L.Q. Santana. International Journal of Acarology 27(2): 123 - 127. (2001)
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/
01647950108684240?journalCode=taca20#previewO complexo gomose da acácia-negra. A.F. Santos; A. Grigoletti Júnior; C.G. Auer; D.L.Q. Santana. Embrapa Florestas. Circular Técnica nº 44. 08 pp. (2001)
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/
CNPF-2009-09/15738/1/circ-tec44.pdfFlutuação populacional de Ctenarytaina spatullata em Eucalyptus grandis no município de Colombo, PR. D.L.Q. Santana. Embrapa Florestas. Pesquisa em Andamento. 03 pp. (2000)
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/
CNPF-2009-09/44322/1/pesq-andam-87.PDFAssociação de Ctenarytaina spatulata e de teores de magnésio foliar com a seca de ponteiros de Eucalyptus grandis. D.L.Q. Santana; F.M. Andrade; A.F.J. Bellote; A. Grigoletti Júnior. Boletim de Pesquisa Florestal 39: 41 – 49. (1999)
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPF-2009-09/4971/1/santana.pdf
http://www.cnpf.embrapa.br/publica/boletim/boletarqv/boletim39/santana.pdfCtenarytaina eucalypti (Maskell, 1890) (Hemiptera, Psyllidae) em eucaliptos no Brasil. D.L.Q. Santana; E.T. lede; S.R.C. Penteado; D. Burckhardt. Boletim de Pesquisa Florestal 39: 139 – 144. (1999)
http://www.cnpf.embrapa.br/publica/boletim/boletarqv/boletim39/santana1.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPF-2009-09/15530/1/santana1.pdfResistência intra-específica de eucaliptos a formigas cortadeiras. D.L.Q. Santana; L. Couto. Boletim de Pesquisa Florestal 20: 13 – 21. (1990)
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPF-2009-09/4874/1/santana.pdf
http://www.cnpf.embrapa.br/publica/boletim/boletarqv/boletim20/santana.pdfPragas do eucalipto introduzidas no Brasil. D.L.Q. Santana; A.L.J.L. Rocha. Embrapa Florestas (s/d = sem referência de data)
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/427997
/1/pragasdoeucaliptointroduzidasnoBrasil.pdf
Imagens de quatro importantes psilídeos muito estudados pela Dra. Dalva Luiz de Queiroz e oferecidas pela pesquisa no Google Imagens:http://www.google.com.br/search?tbm=isch&hl=pt-BR&source=hp&biw=
1280&bih=514&q=%22Glycaspis+brimblecombei%22&gbv=2&oq=
%22Glycaspis+brimblecombei%22&aq=f&aqi=g1&aql=&gs_sm=e&gs
_upl=1805l7875l0l8174l4l4l0l0l0l0l329l908l2-1.2l3l0 (Glycaspis brimblecombei – Psilídeo-de-concha)http://www.google.com.br/search?tbm=isch&hl=pt-BR&source=hp&biw=
1280&bih=514&q=%22Ctenarytaina+spatulata%22&gbv=2&oq=
%22Ctenarytaina+spatulata%22&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=
2125l2125l0l3280l1l1l0l0l0l0l196l196l0.1l1l0 (Ctenarytaina spatulata – Psilídeo-dos-ponteiros)http://www.google.com.br/search?tbm=isch&hl=pt-BR&source=hp&biw=
1280&bih=514&q=%22ctenarytaina+eucalypti%22&gbv=2&oq=
%22ctenarytaina+eucalypti%22&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=
2022l2022l0l3464l1l1l0l0l0l0l328l328l3-1l1l0 (Ctenarytaina eucalypti – Psilídeo-do-eucalipto)
http://www.google.com.br/search?tbm=isch&hl=pt-BR&source=hp&biw=1280&bih=521&q=
%22Blastopsylla+occidentalis%22&gbv=2&oq=%22Blastopsylla
+occidentalis%22&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1
392l7262l0l7582l3l3l0l0l0l0l314l895l2-1.2l3l0 (Blastopsylla occidentalis – Psilídeo-das-ponteiras)

Os Amigos do Eucalyptus
Engenheiro Florestal Manoel de FreitasO engenheiro florestal Manoel de Freitas tem sido um dos grandes expoentes da silvicultura brasileira. Sua experiência profissional, sua liderança, e em especial, seus esforços pessoais para promover o desenvolvimento tecnológico via integração das empresas florestais com as universidades são fatores marcantes que espelham sua personalidade. Tenho grande amizade e admiração pelo Manoel, a quem conheço desde o início de minha carreira profissional, já que temos quase a mesma idade e nos graduamos engenheiros praticamente na mesma época. Seu primeiro emprego surgiu em 1970, no setor florestal da antiga Champion Papel e Celulose (hoje International Paper do Brasil). Nessa época, a Champion era uma das empresas líderes na silvicultura do eucalipto no Brasil e também uma das associadas do IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais. Com isso, e tendo nós dois um mesmo “padrinho profissional”, o saudoso Dr. Ronaldo Algodoal Guedes Pereira (ex-presidente da Champion e ex-professor da ESALQ - Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”), nossos caminhos se encontravam com frequência na ESALQ, no IPEF, na SBS – Sociedade Brasileira de Silvicultura e em dezenas de congressos e eventos florestais que aconteciam no Brasil. Entre 1997 a 2000 fui seu vice-presidente na sua “enésima gestão” como presidente do IPEF. Ao longo desse período todo, pude entender muito sobre sua lógica profissional, muito similar à minha: a procura contínua por sinergias e interações na busca do desenvolvimento do bem comum.
Manoel de Freitas é paulista, nascido na cidade de Itararé em 1946, tendo vivido também parte de sua infância/juventude em Votuporanga/SP. Em 1965, quando cursava Educação Física na cidade de Curitiba, descobriu por acaso que existia uma nova carreira universitária no Brasil: a engenharia florestal. Interessou-se por ela e trocou de objetivos profissionais: talvez tenhamos perdido um grande formador de talentos olímpicos, mas ganhamos um grande plantador de árvores e de incentivador de centenas de estudantes de engenharia florestal.
Entre 1966 a 1969 estudou engenharia florestal na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e ao se formar, já obteve colocação profissional na Champion, onde desenvolveu uma longa e vitoriosa carreira: praticamente ocupou todos os cargos de gestão florestal na Champion e suas coligadas e sucedâneas (AMCEL – Amapá Florestal e Celulose, Inpacel e International Paper do Brasil). Quando se aposentou, em 2002, a Champion já havia sido adquirida pela International Paper a nível global, o que aconteceu no ano 2000. Portanto, apesar de quatro empresas terem feito parte de sua vida profissional (Champion; Inpacel, que foi da Champion por quatro anos; AMCEL e International Paper do Brasil), na verdade, Manoel de Freitas é um daqueles personagens “que se dedicou de corpo e alma a uma única empresa” do início de sua carreira até a aposentadoria, bem ao estilo dos grandes administradores japoneses.
Entretanto, sua aposentadoria foi prematura - a legislação brasileira facultava essa oportunidade e ela acabou acontecendo ainda cedo. O espírito de luta, a boa saúde e a idade eram fatores incompatíveis com uma aposentadoria voltada ao lazer e ao descanso. Por isso, em 2003, Manoel criou a empresa florestal Manoel de Freitas Consultoria Florestal, o que lhe permitiu ampliar sua carreira para inúmeras outras empresas brasileiras e internacionais: Ramires Reflorestamentos, Caxuana Reflorestamento, Votorantim Celulose e Papel, ArborGen, Aracruz Celulose, Suzano, MecPrec, GMR Florestal, etc. Internacionalmente, teve e tem clientes em países como Chile, Argentina, Peru, Estados Unidos, Inglaterra e Uruguai, dentre outros.
Evidentemente, para adequar seu currículo a toda essa atividade florestal e empresarial, Manoel ampliou sua formação acadêmica, tendo estudado Administração de Empresas na PUC/Campinas e Gestão Ambiental na Faculdade Metropolitana de Campinas. Isso sem contar as dezenas de cursos e congressos em que participou, em grande parte deles, como palestrante.
Sua simpatia e dedicação aos eucaliptos surgiram tão logo começou a trabalhar na Champion, já que os eucaliptos constituíam-se na matéria-prima fundamental da empresa para a fabricação de celulose kraft e de papéis de imprimir e escrever. Entretanto, a silvicultura de outras espécies passou a enriquecer sua experiência, em especial depois de começar sua carreira como consultor. Assim o Pinus e outras espécies nativas e exóticas foram incorporados em sua bagagem e vivência florestal.
Manoel de Freitas sempre fala com muita afeição da Champion, como não poderia deixar de ser. Atribui à filosofia da empresa uma parte substancial de seu sucesso na participação e na gestão de entidades de classe, já que a Champion, apesar de ter sido uma multinacional, incentivava esse tipo de integração universidade/empresa e a troca de conhecimentos e experiências. Dessa forma, além de seus oito anos na gestão do IPEF (como presidente e também diretor do Conselho de Administração), ele teve atuações importantes em outras associações, como: Associação Paulista dos Engenheiros Florestais, SBS - Sociedade Brasileira de Silvicultura, Florestar (membro fundador e presidente por cinco anos), FunBio - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade e Reflores/MS - Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas.
O fato de ter exercido cargos executivos importantes em empresas internacionais (Champion e International Paper do Brasil), e depois por ter atuado internacionalmente como consultor, abriu as portas para sua atuação “nos quatro cantos do globo”, como ele se referiu a isso. Teve inúmeras oportunidades de viagens internacionais em sua profissão, seja como consultor, seja em eventos e também nos negócios em que atuava e atua. Com isso, sua experiência e visão holística foram ampliadas e colaboraram para torná-lo um profissional com amplo e diversificado conhecimento e experiência.
Ao longo de sua carreira teve inúmeros trabalhos publicados em revistas e livros de congressos, bem como apresentou inúmeras palestras em eventos no Brasil e fora dele. Na sua modéstia de paulista do interior, Manoel se refere às suas publicações mais antigas “como sem muita utilidade nos dias de hoje, pois contemplam situações e práticas não mais adotadas pela moderna silvicultura”. Entretanto, esquece-se que foram essas práticas silviculturais que colaboraram para as mudanças e para o desenvolvimento ímpar das tecnologias florestais no Brasil.
Outra coisa que Manoel sempre se esquece de relatar (e que eu conheço muito bem) foi a sua abertura para que estudantes e acadêmicos de engenharia se valessem do apoio e das instalações florestais da Champion e da International Paper para suas pesquisas. Basta pesquisar nas teses e dissertações da ESALQ/USP, UNESP, UFPR, UnB, etc. para se perceber quantos foram os estudantes que tiveram a oportunidade de pesquisar e de aprender as práticas e a ciência florestal sob a orientação de Manoel de Freitas e de sua equipe.
Quando lhe perguntei sobre suas contribuições relevantes para a silvicultura do eucalipto, respondeu com modéstia dizendo que “acredita ter contribuído para a evolução dessa silvicultura, ao longo de seus mais de 40 anos de atividades no setor”. Preferiu não destacar nenhum de seus feitos ou conquistas, mantendo-se mais na posição de um alavancador e incentivador da engenharia florestal no Brasil. Entretanto, eu que o conheço bem, gostaria de destacar a importante participação que ele teve na seleção e na implantação da unidade florestal da Chamflora na região de Três Lagoas no estado do Mato Grosso do Sul. Revelou-me, em um bate-papo, que na época foram estudadas três localizações para a expansão da base florestal da Champion: Maranhão, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. A opção foi por Três Lagoas/MS, com sabedoria e determinação. Em 1988, para lá se dirigiram os executivos florestais da empresa, juntamente com o nosso saudoso Dr. Ronaldo Algodoal Guedes Pereira. Coube ao Manoel participar na escolha do site, bem como, conduzir a compra das terras, e estruturar todo o projeto florestal, desde viveiro, talhonamento, espécies, e tudo que a ele dizia respeito. Os primeiros 45.000 hectares foram comprados em dois anos e outros 40.000 hectares em meados dos anos 90’s. Os plantios foram iniciados já no final de 1988. “Quando terminamos de plantar os 60.000 hectares naqueles 85.000 hectares totais costumava-se dizer que eu conhecia cada árvore por nome em Três Lagoas, tal era meu envolvimento e ligação com o projeto”. Fica esse registro, meu amigo Manoel – acredito que Três Lagoas lhe deve render até mesmo uma placa com nome de rua no futuro. Se é que já não fizeram isso, com justiça.
Já em relação à minha pergunta sobre o que ainda falta fazer em seu caminho para o futuro, Manoel foi mais enfático, dizendo que “apesar de já estar no tempo de pendurar as chuteiras, continua com muita disposição, a mesma de um recém-formado”. Por isso, dedica grande parte de seu tempo profissional às empresas Ramires Reflorestamentos e GMR Florestal no Brasil, bem como atua em atividades de transferência e desenvolvimento de tecnologias florestais no Peru (onde exerce esse tipo de trabalho desde 2003).
Manoel de Freitas foi agraciado com vários prêmios, distinções e homenagens, tais como as recebidos do IPEF, SIF – Sociedade de Investigações Florestais, CREA-SP, etc., etc. Foi também paraninfo de inúmeras turmas de formandos em engenharia florestal (USP, UNESP, UFPR, UnB). Destaca, com merecido orgulho, que foi o primeiro engenheiro florestal a ser agraciado com o “Prêmio Floresta”, da Universidade Federal do Paraná, em 2000, quando se comemorava os 40 anos da Engenharia Florestal no Brasil. Ou seja, nada melhor e mais gratificante do que ser reconhecido na universidade onde a gente se gradua, pois isso dá uma sensação de dever cumprido em resposta aos esforços e dedicação de nossos mestres.
Manoel de Freitas é casado com Elisabete, paranaense de Sengés; sendo que o casal tem três filhas (Charlote, Camile e Dubianca) e um neto (Guillermo) - “seus maiores e mais valiosos patrimônios nessa existência”.
Graças a um trabalho de resgate de material técnico elaborado pelo amigo Manoel de Freitas para essa nossa edição da Eucalyptus Newsletter, conseguimos lhes trazer essa seleção de palestras e artigos técnicos para a navegação: um valioso patrimônio tecnológico para os interessados pela silvicultura brasileira.
Seleção de alguns artigos e palestras do engenheiro florestal Manoel de Freitas:
É muito importante que vocês naveguem logo e façam a leitura dos materiais de seu interesse. Muitas vezes, as instituições disponibilizam esses valiosos materiais por curto espaço de tempo ou então alteram os endereços de URL devido a modernizações em seus websites.Entendendo as novas fronteiras da floresta plantada. M. Freitas. Revista Opiniões. (Junho/Agosto). (2011)
http://www.revistaopinioes.com.br/cp/materia.php?id=749Desenvolvimento e/ou preservação? Fatores a considerar. M. Freitas. Revista Opiniões. (Dezembro 2010/Fevereiro 2011). (2011)
http://www.revistaopinioes.com.br/cp/materia.php?id=697Perspectivas 2011. Entrevista Manoel de Freitas. Painel Florestal TV. (2011)
http://treslagoasflorestal.com.br/painel-florestal-tv/geral/236/
perspectivas-2011-manoel-de-freitasTimberland investing. M. Freitas. Latin American Summit 2011-IQPC. Apresentação em PowerPoint: 13 slides. (2011)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/
01_Timberland%20investingManoel-de-Freitas.pdfAdministrando a empresa florestal aproveitando conceitos aprovados no dia a dia. M. Freitas. IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais. Apresentação em PowerPoint: 19 slides. (2011)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/
02_Administrando%20empresa%20florestal.pdfEngenharia florestal, uma história de meio século. M. Freitas. Revista Opiniões. (Março/Maio). (2010)
http://www.revistaopinioes.com.br/cp/materia.php?id=637As perspectivas do setor florestal em MS. Entrevista M. Freitas. Ribas Florestal 2010. Vídeos Youtube. Canal Painel Florestal TV. (2010)
http://www.youtube.com/watch?v=14JXGWnOEQg
http://painelflorestal.com.br/painel-florestal-tv/
entrevista-especial/39/as-perspectivas-do-setor-florestal-em-msEucalipto/Pinus. Bases para um projeto florestal. M. Freitas. 2º Congresso Florestal de Mato Grosso do Sul. Apresentação em PowerPoint: 35 slides. (2010)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros
/03_BASES%20PARA%20UM%20PROJETO%20FLORESTAL.pdf
http://www.opec-eventos.com.br/msflorestal/dowload/manoel.pdfDesafios das novas fronteiras florestais do Brasil. M. Freitas. 1º Congresso Florestal do Tocantins. Apresentação em PowerPoint: 25 slides. (2010)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/04_DESAFIOS
%20DAS%20NOVAS%20FRONTEIRAS%20FLORESTAIS.pdfAbordagem sobre o eucalipto destaca “onda verde”. Jornal Informe Agropecuário. Edição nº 264. Notícias Sindicato Rural de Campo Grande. (2008)
http://www.srcg.com.br/noticias.php?id=2636Finalidades dos plantios florestais com eucaliptos. M. Freitas. Workshop sobre Sistemas de Manejo de Florestas de Eucaliptos. Apresentação em PowerPoint: 42 slides. (2008)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/
05_FINALIDADES%20DOS%20PLANTIOS%20FLORESTAIS%20COM%20EUCALIPTOS.pdfEucalipto: aspectos sociais, ambientais e econômicos. M. Freitas. Seminário Florestal do Sindicato Rural de Campo Grande. Apresentação em PowerPoint: 33 slides. (2008)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/
06_EUCALIPTO-%20ASPECTOS%20SOCIAIS-AMBIENTAIS%20E%20ECONOMICOS.pdfSilvicultura de Pinus. M. Freitas. Semana de Agronomia. São José do Rio Preto. Apresentação em PowerPoint: 34 slides. (2008)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/07_SIVICULTURA%20DE%20PINUS.pdfO mercado florestal. M. Freitas. Goiânia/Goiás. Apresentação em PowerPoint: 16 slides. (2005)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/08_mercado%20florestal.pdf
http://www.ciflorestas.com.br/arquivos/doc_sociedade_florestal_28440.pdfExperiencia del desarrollo forestal brasileño. M. Freitas. FONDEBOSQUE – Fondo de Promoción del Desarrollo Forestal. Peru. Apresentação em PowerPoint: 39 slides. (2003)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/09_EXPERIENCIA
%20DEL%20DESARROLLO%20FORESTAL%20BRASILENO.pdfPlanted forests in Brazil. M. Freitas. XX IUFRO World Congress. (1995)
http://metla.eu/iufro/iufro95abs/rsp18.htmFlorestas sociais: a experiência do Fundo Florestar em São Paulo. E.P. Castanho Filho; M. Freitas. 7º Congresso Florestal Brasileiro. 06 pp. (1993)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/
10_florestas%20sociais.pdfReforma imediata: um conceito em prática. M. Freitas. Revista Silvicultura 44: 34 – 37. (1992)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/
11_reforma%20eucalipto.pdfPrograma com Eucalyptus grandis na Champion Papel e Celulose S.A. M. Freitas; A.P. Silva; A.S. Diniz; P.Y. Kageyama; M. Ferreira. Revista Silvicultura 31: 537 – 539. (1983)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/
12_programa%20E.grandis%20na%20Champion.pdfAvaliação e controle de qualidade em florestas de Eucalyptus. M. Freitas; A. P. Silva; R.A. Caneva; O. Beig. Circular Técnica IPEF nº 91. 08 pp. (1980)
http://www.ipef.br/publicacoes/ctecnica/nr091.pdfEstudo comparativo do comportamento de alguns híbridos de Eucalyptus spp. R.A. Brigatti; M. Ferreira; A.P. Silva; M. Freitas. Circular Técnica IPEF nº 123. 07 pp. (1980)
http://www.ipef.br/publicacoes/ctecnica/nr123.pdfO uso da floresta como supridora de energia na Champion Papel e Celulose S.A. M. Freitas. Série Técnica IPEF 1(2): F.1 – F.7. (1980)
http://www.ipef.br/publicacoes/stecnica/nr02/cap06.pdfO interplantio como alternativa para rotações sucessivas em Eucalyptus. M. Freitas; A.P. Silva; F. Gutierrez Neto; R.A. Caneva. IPEF 19: 1-16. (1979)
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr19/cap01.pdfDensidade básica da madeira de plantações comerciais de eucaliptos, na região de Mogi-Guaçú (S.P.). C.A. Ferreira; M. Freitas; M. Ferreira. IPEF 18: 106-117. (1979)
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr18/cap05.pdfVariação da densidade básica da madeira de Eucalyptus spp. em função da idade e qualidade de local. C.A. Ferreira; M. Freitas; M. Ferreira. I Congresso sobre Qualidade de Madeira. IPEF/ABCP. Boletim Informativo IPEF nº 20: B.1 - B.19. (1978)
http://www.ipef.br/publicacoes/boletim_informativo/bolinf20.pdfReforma de eucaliptais. M. Freitas. Boletim Informativo IPEF nº 16: C.1 – C.05. (1978)
http://www.ipef.br/publicacoes/boletim_informativo/bolinf16.pdf
http://www.ipef.br/publicacoes/boletim_informativo/bolinf16.pdf#page=35Como já lhes disse, sempre tive uma enorme admiração pela competência e pelas realizações técnicas e institucionais desse grande amigo dos eucaliptos e da engenharia florestal no Brasil. Sua qualificação profissional, entusiasmo e dedicação à silvicultura são inquestionáveis. Por isso, senti-me honrado e privilegiado em ter tido a oportunidade de lhes revelar um pouco sobre a vida profissional desse grande "Amigo dos Eucalyptus" e em compartilhar alguns de seus trabalhos técnicos publicados ao longo de sua carreira profissional.
Meu estimado amigo Manoel de Freitas, muito obrigado por suas realizações valorizando os eucaliptos e o desenvolvimento tecnológico e científico da engenharia florestal no Brasil. Obrigado também por tudo mais que você tem realizado e continuará realizando pela ciência, pela tecnologia e pela imagem da engenharia florestal brasileira - e dos eucaliptos, também.
Referências Técnicas da Literatura Virtual
Artigos sobre a Espécie Florestal Acacia mearnsii de Autoria do Dr. Mauro Valdir SchumacherDr. Mauro Valdir Schumacher é um dos mais produtivos pesquisadores acadêmicos que eu conheço. Sua capacidade de gerar e depois de transmitir conhecimentos é enorme, seja através da palavra (em cursos, entrevistas e palestras), como no formato de artigos e textos técnicos. Sua área de especialização é a Ecologia e Nutrição Florestal, mas ele tem trabalhado em muitos outros campos da Silvicultura, seja em parcerias com outros pesquisadores acadêmicos ou de empresas florestais, na orientação de inúmeros alunos de graduação e pós-graduação, ou na redação de livros de interesse do setor florestal. Por suas inquestionáveis virtudes como professor, pesquisador e autor, Dr. Schumacher será homenageado tanto pela PinusLetter, como “Grande Autor sobre os Pinus”, como pela Eucalyptus Newsletter, como “Amigo dos Eucalyptus” (em uma edição futura). Entretanto, apesar de ter a maioria de seus trabalhos de pesquisa sendo dedicados a esses dois gêneros florestais, ele também tem muitas pesquisas com as espécies Acacia mearnsii (acácia negra), Araucaria angustifolia (araucária ou pinheiro brasileiro), Platanus x acerifolia (plátano), Ilex paraguaiensis (erva-mate), etc. Além disso, como especialista em nutrição e ecologia florestal, tem inúmeras pesquisas sendo realizadas em espécies florestais das matas nativas e naturais brasileiras.
Elaboraremos uma biografia bem mais abrangente e detalhada sobre a carreira e a vida profissional do Dr. Mauro Schumacher, quando lhes apresentarmos seus feitos com os eucaliptos e com o Pinus e com a Araucaria. Isso acontecerá em outras edições da Eucalyptus Newsletter e da PinusLetter.
Dr. Mauro Valdir Schumacher possui graduação em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Santa Maria, onde se formou em 1989. Logo a seguir, transferiu-se para Piracicaba (USP – Universidade de São Paulo), para trabalhar para obter seu grau de Mestre em Ciências, sob a orientação do nosso grande amigo Dr. Fábio Poggiani. Em 1992, defendeu sua dissertação de mestrado de título “Aspectos da ciclagem de nutrientes e do microclima em talhões de Eucalyptus camaldulensis, E. grandis e E. torelliana”. Graças à sua enorme dedicação, determinação e entusiasmo pela ciência florestal, conseguiu uma abertura importante para estudar na Áustria, em Viena, na Universitaet fuer Bodenkultur, sob a orientação do renomado Dr. Anton Krapfenbauer. Lá elaborou um dos mais amplos tratados acadêmicos sobre a ciclagem de nutrientes em eucaliptos, estudando as espécies E. globulus, E. dunnii e E. saligna. Para isso, contou com especial apoio da empresa Riocell S.A., tanto na forma de uma singela bolsa de estudos complementar, como com a parte logística na área de silvicultura para a elaboração de sua tese de doutorado de título “Ciclagem de nutrientes em diferentes povoamentos de Eucalyptus saligna, E. dunnii e E. globulus no Rio Grande do Sul, Brasil”, defendida com enorme sucesso em 1995. Esses dois trabalhos de tese estarão disponibilizados em uma de nossas próximas Eucalyptus Newsletters, quando for feita a homenagem ao Dr. Mauro Schumacher como “Amigo dos Eucalyptus”.
Atualmente, o Dr. Mauro Schumacher é professor associado nível III da UFSM – Universidade Federal de Santa Maria, onde educa seus alunos e gerencia e desenvolve pesquisas florestais no excelente Laboratório de Ecologia Florestal – Labeflo, um dos mais bem equipados e produtivos laboratórios de ecologia florestal no Brasil (http://www.labeflo.com.br/index.htm).
Na presente edição da Eucalyptus Newsletter estamos lhes trazendo alguns dos muitos trabalhos publicados pelo Dr. Schumacher e sua equipe a respeito da espécie florestal Acacia mearnsii, também uma de suas preferidas em múltiplas pesquisas universitárias. Dentre os assuntos estudados acerca da acácia negra, destacam-se: ciclagem de nutrientes, ecologia dos ecossistemas florestais, nutrição, interações com outros sistemas e espécies, silvicultura geral, etc. Talvez, Dr. Mauro seja um dos pesquisadores brasileiros com mais trabalhos publicados sobre a acácia negra, seja sobre sua silvicultura ou sobre suas interações ecológicas. Isso porque a acácia negra é uma leguminosa e cicla inclusive o nitrogênio que obtém de suas interações simbióticas. Uma atração enorme para um pesquisador de ecologia e nutrição florestal. Até mesmo porque nada impede, pelo contrário, seria de altíssimo valor, o estabelecimento de sistemas florestais mistos incluindo a acácia negra.
Eu também acredito muito na Acacia mearnsii e em seu valor florestal e ecológico. Por isso, em 2008, escrevi o capítulo 08 do Eucalyptus Online Book sobre ela: “Os Eucaliptos e as Leguminosas. Parte 01: Acacia mearnsii”. Conheçam em: http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/PT08_leguminosas.pdf
Por todas essas razões, decidi consolidar nessa edição da Eucalyptus Newsletter uma seleção de qualificados artigos escritos pela equipe do Dr. Schumacher sobre essa espécie florestal de significativo valor para o sul do Brasil, onde existem milhares de hectares oferecendo madeira (para produção de celulose, papel, carvão vegetal e biomassa combustível, dentre outros) e casca (para produção de tanino). Fizemos uma criteriosa busca na web sobre os trabalhos do Dr. Mauro. Também disponibilizamos, com seu consentimento, alguns outros artigos de eventos que não estavam abertos ao público na web. Esses trabalhos foram colocados no website www.celso-foelkel.com.br e colocamos links com eles, para ampliar nossa seleção para vocês. Com isso, conseguimos resgatar e preparar para vocês uma seleção de cerca de 60 textos técnicos e científicos sobre a acácia negra, com a participação fundamental do Dr. Mauro Valdir Schumacher. Definitivamente, temos um excelente e valioso banco de dados sobre a acácia negra para aqueles que tiverem mais interesse sobre essa espécie e sobre seu potencial florestal para o Brasil. Com muita certeza, a leitura dos mesmos vai permitir que se conheça mais sobre a silvicultura, manejo, biomassa, nutrição, ciclagem de nutrientes e sobre a sustentabilidade da acacicultura no Brasil. Como essa espécie é também plantada com sucesso na Austrália e África do Sul, temos convicção de que os artigos do Dr. Schumacher estão cruzando os oceanos para colaborar com a silvicultura da acácia negra em outras terras e continentes.
Ainda, para conhecerem um pouco mais sobre a carreira acadêmica do Dr. Mauro Valdir Schumacher, visitem seu currículo conforme disponibilizado pelo CNPq em sua Plataforma Lattes:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4784985T4
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhepesq.jsp?pesq=4577505947479643
Aproveitem então com essa seleção de referências da literatura sobre o que nos ensina o Dr. Mauro Valdir Schumacher e seus colaboradores (alunos, orientados e pares acadêmicos) acerca da Acacia mearnsii. Destacamos a participação nesses estudos dos pesquisadores Marcos Vinicius Winckler Caldeira, Juarez Martins Hoppe, Leonir Rodrigues Barichello, Rubens Marques Rondon Neto, Luciano Farinha Watzlawick, Elias Moreira dos Santos, Hamilton Luiz Munari Vogel, Fábio Luiz Fleig Saidelles, Flávia Gizele König, Jaime Sandro Dallago, Lísias Coelho, Francine Neves Calil, Rudi Witschoreck, João Vianei Menezes da Silva, Gelson Pase Dal Ross, Márcio Viera, dentre tantos outros.
Seleção de artigos técnicos e científicos sobre a acácia negra e de autoria do Dr. Mauro Valdir Schumacher e equipe de pesquisadores
Biomassa em povoamentos monoespecíficos e mistos de eucalipto e acácia-negra e do milho em sistema agrossilvicultural. M. Viera; M.V. Schumacher. Cerne 17(2): 259-265. (2011)
http://www.dcf.ufla.br/cerne/administracao/publicacoes/m562v17n2o14.pdfBiomassa de povoamento de Acacia mearnsii De Wild., Rio Grande do Sul, Brasil. M.V.W. Caldeira; F.L.F. Saidelles; M.V. Schumacher; T.O. Godinho, Scientia Forestalis 39: 133-141. (2011)
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr90/cap01.zip
Determinação do ponto de amostragem para a quantificação de macronutrientes em Acacia mearnsii De Wild. F.L.F. Saidelles; M.V.W. Caldeira; M.V. Schumacher; R. Balbinot; W.N. Schirmer. Floresta 40: 49-62. (2010)
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/article/download/17098/11259Crescimento inicial e produtividade em plantios monoespecíficos e mistos de Eucalyptus urograndis e Acacia mearnsii em sistema agrossilvicultural. M. Viera. Orientação: M. V. Schumacher. Dissertação de Mestrado. UFSM – Universidade Federal de Santa Maria. 141 pp. (2010)
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/
DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=168479
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp119954.pdf
http://www.vsdani.com/ppgef/tesesdissertacoes/7d08fdisserta__o_m_rcio_viera.pdfDeposição de serapilheira e de macronutrientes em um povoamento de acácia-negra (Acacia mearnsii De Wild.) no Rio Grande do Sul. M. Viera; M.V. Schumacher. Ciência Florestal 20: 225-233. (2010)
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/
cienciaflorestal/article/viewFile/1848/1193Plantio misto de Eucalyptus urograndis e Acacia mearnsii em sistema agroflorestal: I - Produção de biomassa. I.S. Kleinpaul; M.V. Schumacher; M. Viera; M.C. Navroski. Ciência Florestal 20: 621-627. (2010)
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/
cienciaflorestal/article/download/2420/1486Determinação do ponto de amostragem para a quantificação de micronutrientes em acácia-negra (Acacia mearnsii De Wild.). F.L.F. Saidelles; M.V.W. Caldeira; M.V. Schumacher; R. Balbinot. Floresta 39(1): 77 – 87. (2009)
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/article/download/13728/9250
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/article/view/13728/9250Uso de equações para estimar carbono orgânico em plantações de Acacia mearnsii de Wild. no Rio Grande do Sul - Brasil. F.L.F. Saidelles; M.V.W. Caldeira; M.V. Schumacher; R. Balbinot. Revista Árvore 33: 907-914. (2009)
http://www.scielo.br/pdf/rarv/v33n5/v33n5a13.pdf
Plantio misto de Eucalyptus urograndis e Acacia mearnsii em sistema agroflorestal. I.S. Kleinpaul. Orientação: M.V. Schumacher. Dissertação de Mestrado. UFSM – Universidade Federal de Santa Maria. 88 pp. (2008)
http://www.vsdani.com/ppgef/tesesdissertacoes/
Dissertacao%20Isabel%20Kleinpaul.pdfBiomassa e comprimento de raízes finas em povoamento de Acacia mearnsii de Wild. estabelecido em área degradada por mineração de carvão. D.E. Ceconi; I. Poletto; T. Lovato; M.V. Schumacher. Floresta 38: 1-10. (2008)
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/article/download/11022/7464
Resumo: Distribuição de probabilidade em análises nutricionais de espécies florestais. A. Dal’Col Lúcio; R.A.R. Rossato; L. Storck; M.V. Schumacher; F.O. Fortes. Ceres 54(313): 214-224. (2007)
http://www.ceres.ufv.br/CERES/revistas/V54N313P03107.pdf
Quantificação da biomassa de um povoamento de Acacia mearnsii De Wild. na região sul do Brasil. L.R. Barichello; M.V. Schumacher; H.L.M. Vogel. Ciência Florestal 15(2): 129-135. (2005)
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/cienciaflorestal/article/viewFile/1830/1094
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/534/53415202.pdf
http://www.bioline.org.br/pdf?cf05012Conteúdo de micronutrientes na biomassa de Acacia mearnsii De Wild. L. R. Barichello; M.V. Schumacher; M.V.W. Caldeira. Revista Acadêmica. Ciências Agrárias e Ambientais 3: 37-45. (2005)
http://www2.pucpr.br/reol/index.php/ACADEMICA?dd1=960&dd99=pdfDeterminação da biomassa e altura de amostragem para a quantificação de nutrientes em Acacia mearnsii De Wild. F.L.F. Saidelles. Orientação: M.V. Schumacher. Tese de Doutorado. UFSM – Universidade Federal de Santa Maria. 97 pp. (2005)
http://www.vsdani.com/ppgef/tesesdissertacoes/e4a68fabio_luiz_fleig_saidelles.pdfEficiência do uso de micronutrientes e sódio em três procedências de acácia-negra (Acacia mearnsii De Wild.). M.V.W. Caldeira; R.M. Rondon Neto; M.V. Schumacher. Revista Árvore 28(1): 39-47. (2004)
http://www.scielo.br/pdf/rarv/v28n1/a06v28n1.pdfBiomassa em um sistema silvipastoril com Acacia mearnsii De Wild. na região sul do Brasil. F.N. Calil; M.V. Schumacher; E.M. Santos; R. Witschoreck. Biomassa & Energia 1(2): 165-171. (2004)
http://www.renabio.org.br/arquivos/p_biomassa_brasil_9618.pdfEfeitos de diferentes tipos de substratos e recipientes no desenvolvimento de mudas de acácia-negra (Acacia mearnsii) e seu desempenho a campo. J.M. Hoppe; M.V. Schumacher; J.Â.C. Vivian; J.V.M. Silva; G.P.D. Ross; E. Moreira; M. Pipi; J. Krieger. 9º Congresso Florestal Estadual do Rio Grande do Sul. Nova Prata. 08 pp. (2003)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/
01_substratos%20para%20mudas%20acacia.pdfCrescimento de Acacia mearnsii em diferentes densidades de plantio. J.M. Hoppe; M.V. Schumacher; G.P.D. Ross; J.V.M. Silva; E.M. Santos. 9º Congresso Florestal Estadual do Rio Grande do Sul. Nova Prata. 06 pp. (2003)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/
02_acacia%20em%20diferentes%20densidades%20de%20plantio.pdfAvaliação da matocompetição em um povoamento de Acacia mearnsii. J.M. Hoppe; M.V. Schumacher; J.V.M. Silva; G.P.D. Ross; J.Â.C. Vivian. E.M. Santos. 9º Congresso Florestal Estadual do Rio Grande do Sul. Nova Prata. 05 pp. (2003)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/
03_matocompeticao%20em%20acacia.pdfUtilização de cinza de caldeira de biomassa como fonte de nutrientes em Acacia mearnsii. H.L.M. Vogel; M.V. Schumacher; J.V.M. Silva; G.P.D. Ross; E.S. Moreira. 8º Congresso Florestal Brasileiro. 08 pp. (2003)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/
04_cinza%20de%20acacia%20negra.pdfCrescimento inicial de Acacia mearnsii relacionado a doses de N, P e K. M.V. Schumacher; H.L.M. Vogel; J.V.M. Silva; G.P.D. Ross; E.S. Moreira. 8º Congresso Florestal Brasileiro. 10 pp. (2003)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/05_fertilizacao%20acacia.pdfConteúdo e exportação de micronutrientes em acácia-negra (Acacia mearnsii De Wild) procedência Batemans Bay (Austrália). M.V.W. Caldeira; R.M. Rondon Neto; M.V. Schumacher; L.F. Watzlawick; E.M. Santos. Revista Árvore 27(1): 9-14. (2003)
http://www.scielo.br/pdf/rarv/v27n1/15916.pdfDeterminação de carbono orgânico em povoamentos de Acacia mearnsii De Wild plantados no Rio Grande do Sul. M.V.W. Caldeira; M.V. Schumacher; L.R. Barichello; H.L.M. Vogel. Revista Acadêmica. Ciências Agrárias e Ambientais 1 (2): 47-54. (2003)
http://www2.pucpr.br/reol/index.php/ACADEMICA?dd1=894&dd99=pdfRetorno de nutrientes via deposição de serapilheira em um povoamento de acácia-negra (Acacia mearnsii De Wild.) no estado do Rio Grande do Sul. M.V. Schumacher; E.J. Brun; L.M. Rodrigues; E.M. Santos. Revista Árvore 27(6): 791-798. (2003)
http://www.scielo.br/pdf/rarv/v27n6/a05v27n6.pdfResumo: Aspectos da ciclagem de nutrientes em um sistema silvopastoril com Acacia mearnsii De Wild., no município de Tupanciretã, RS. F.N. Calil. Orientação: M.V. Schumacher. Dissertação de Mestrado. UFSM – Universidade Federal de Santa Maria. 77 pp. (2003)
http://ciencialivre.pro.br/media/3f126a5cbc9ed337ffff81d7ffffd524.doc
http://www.ufsm.br/ppgef/dissertacoes/francinicalil.pdfQuantificação da biomassa e dos nutrientes em floresta de Acacia mearnsii De Wild. na região sul do Brasil. L. R. Barichello. Orientação: M.V. Schumacher. Dissertação de Mestrado. UFSM – Universidade Federal de Santa Maria. 58 pp. (2003)
http://www.ufsm.br/ppgef/dissertacoes/leonirbarichello.pdf (Resumo)
http://www.vsdani.com/ppgef/tesesdissertacoes/b06e0dissertacao_leonir.pdfQuantification of nutrient content in above-ground biomass of young Acacia mearnsii De Wild., provenance Bodalla. M.V.W. Caldeira; M.V. Schumacher; P. Spathelf. Annals of Forest Science 59: 833-838. (2002)
http://www.afs-journal.org/index.php?option=com_
article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/forest/pdf/2002/07/04.pdfQuantificação da biomassa aérea em um povoamento de Acacia mearnsii. M.V.W. Caldeira; M.V. Schumacher; E.M. Santos. 8º Congresso Florestal Estadual do Rio Grande do Sul. Nova Prata. 07 pp. (2002)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/
06_biomassa%20aerea%20em%20acacia.pdfEvolução espacial da gomose durante o inverno de 1999 em um povoamento de acácia-negra com dois anos de idade. L. Coelho; E.A.M. Iensen; E.M. Santos; R. Balbinot; M.V. Schumacher; J.M. Hoppe. 8º Congresso Florestal Estadual do Rio Grande do Sul. Nova Prata. 04 pp. (2002)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/
07_evolucao%20gomose%20em%20acacia.pdfAvaliação da eficiência nutricional de três procedências australianas de acácia-negra (Acacia mearnsii De Wild.). M.V.W. Caldeira; R.M. Rondon Neto; M.V. Schumacher. Revista Árvore 26(5): 615-620. (2002)
http://www.scielo.br/pdf/rarv/v26n5/a12v26n5.pdfRelação hipsométrica para Acacia mearnsii com diferentes idades. M.V.W. Caldeira; M.V. Schumacher; L.W. Scheeren; L.R. Barichello. Embrapa Florestas. Boletim de Pesquisa Florestal 45: 57-68. (2002)
http://www.cnpf.embrapa.br/publica/boletim/
boletarqv/bolet45/pag57-68.pdfExportação de nutrientes em função do tipo de exploração em um povoamento de Acacia mearnsii De Wild. M.V.W. Caldeira; R.M. Rondon Neto; M.V. Schumacher; L.F. Watzlawick. Floresta e Ambiente 9(1): 97-104. (2002)
http://www.floram.org/volumes/vol09-2002/Vol9%2097A104_resumo.pdfAcúmulo e exportação de micronutrientes em um povoamento de acácia-negra (Acacia mearnsii De Wild.) procedência Bodalla – Austrália. M.V.W. Caldeira; R.M. Rondon Neto; M.V. Schumacher. Revista Floresta 33(1): 73-78. (2002)
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/article/view/2279/1904Teor e redistribuição de nutrientes nas folhas e nos galhos em um povoamento de Acacia mearnsii de Wild. (Acácia-negra). M.V.W. Caldeira; M.V. Schumacher; L.M. Rodrigues. Embrapa Florestas. Boletim de Pesquisa Florestal 45(1): 69-88. (2002)
http://www.cnpf.embrapa.br/publica/boletim/boletarqv/bolet45/pag69-88.pdfQuantificação do carbono orgânico em floresta de Acacia mearnsii em diferentes idades. M.V. Schumacher; H.L.M. Vogel; L.R. Barichello; M.V.W. Caldeira. 2º Simpósio Latino Americano sobre Manejo Florestal. 13 pp. (2001)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros
/08_carbono%20organico%20acacia.pdfEfeito da cinza sobre os teores de nutrientes no solo e nas plantas de Acacia mearnsii. J.S. Dallago; M.V. Schumacher; H.L.M. Vogel. 1º Simpósio Brasileiro de Pós-Graduação em Engenharia Florestal. 12 pp. (2001)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/0
9_cinzas%20e%20nutrientes%20em%20acacia.pdfA atividade mineradora, seus impactos e aspectos de sua recuperação - uma revisão de literatura. F.L.F. Saidelles; F.G. König; M.V. Schumacher. 1º Simpósio Brasileiro de Pós-Graduação em Engenharia Florestal. 13 pp. (2001)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/
10_Atividade%20mineradora%20e%20conservacao.pdfAcacia mearnsii em sistemas silvopastoris. F.N. Calil; M.V. Schumacher. 1º Simpósio Brasileiro de Pós-Graduação em Engenharia Florestal. 13 pp. (2001)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/11_silvipastoril%20em%20acacia.pdfAcúmulo de biomassa aérea em um povoamento de Acacia mearnsii. M.V.W. Caldeira; M.V. Schumacher; E.M. Santos; N. Tedesco; J.C. Pereira. Embrapa Florestas. Boletim de Pesquisa Florestal 42: 95-104. (2001)
http://www.cnpf.embrapa.br/publica/boletim/boletarqv/boletim42/caldeira.pdfQuantificação da biomassa acima do solo de Acacia mearnsii De Wild., procedência Batemans Bay - Austrália. M.V.W. Caldeira; M.V. Schumacher; R.M. Rondon Neto; L.F. Watzlawick; E. M. Santos. Ciência Florestal 11(2): 79-91. (2001)
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/
index.php/cienciaflorestal/article/viewFile/1657/942Conteúdo e exportação de B, Cu, Fe, Mn, Zn e Na em acácia-negra (Acacia mearnsii De Wild) procedência Lake George Bunge Dore - Austrália. M.V.W. Caldeira; R.M. Rondon Neto; M.V. Schumacher; P. Spathelf. Floresta 31(1/2): 99-104. (2001)
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/article/download/2337/1952Conteúdo de nutrientes em uma procedência de Acacia mearnsii plantada no Rio Grande do Sul - Brasil. M.V.W. Caldeira; M.V. Schumacher; E.M. Santos. Embrapa Florestas. Boletim de Pesquisa Florestal 42: 105-121. (2001)
http://www.cnpf.embrapa.br/publica/boletim/boletarqv/boletim42/caldeira1.pdfCiclagem de nutrientes em Acacia mearnsii De Wild. V. Quantificação do conteúdo de nutrientes na biomassa aérea de Acacia mearnsii De Wild. procedência australiana. M.V.W. Caldeira; M.V. Schumacher; N. Tedesco; E.M. Santos. Ciência Rural 30 (6): 977-982. (2000)
http://www.scielo.br/pdf/cr/v30n6/a09v30n6.pdfEstimativa do conteúdo de nutrientes em um povoamento jovem de Acacia mearnsii De Wild estabelecido na região sul do Brasil. M.V.W. Caldeira; M.V. Schumacher; E.M. Santos; N. Tedesco; J.C. Pereira. Floresta 29(1/2): 53-65. (2000)
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/article/download/2317/1936Crescimento de mudas de Acacia mearnsii em função de diferentes doses de vermicomposto. M.V.W. Caldeira; M.V. Schumacher; N. Tedesco. Scientia Forestalis 57: 161-170. (2000)
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr57/cap12.pdfUtilização da cinza de biomassa de caldeira como fonte de nutrientes no crescimento de plantas de acácia-negra (Acacia mearnsii De Wild.). J.S. Dallago. Orientação: M.V. Schumacher. Dissertação de Mestrado. UFSM – Universidade Federal de Santa Maria. 78 pp. (2000)
http://www.vsdani.com/ppgef/tesesdissertacoes/
0489cdisserta__o_jaime_dallago_2_sum_rio.pdf (Parte 1)
http://www.vsdani.com/ppgef/tesesdissertacoes/
5373edisserta__o_jaime_dallago_3_desenvolvimento.pdf (Parte 2)Quantificação da biomassa e comprimento de raízes finas em um povoamento de Acacia mearnsii no município de Butiá, RS. M.V. Schumacher; L. Copetti; A. Capra; J.I. Hernandes; F.J. Sutilli; R. Balbinot. Ciclo de Atualização Florestal do Cone Sul. 05 pp. (1999)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/
12_biomassa%20e%20raizes%20finas%20em%20acacia.pdfExportação de nutrientes em um povoamento de Acacia mearnsii em idade de corte. J.C. Pereira; M.V.W. Caldeira; M.V. Schumacher; J.M. Hoppe; E.M. Santos. Ciclo de Atualização Florestal do Cone Sul. 07 pp. (1999)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/
13_exportacao%20nutrientes%20acacia.pdfAvaliação da gomose da acácia negra em um povoamento no Rio Grande do Sul. L. Coelho; E.A.M. Iansen; E.M. Santos; M.V. Schumacher; J.M. Hoppe. Ciclo de Atualização Florestal do Cone Sul. 05 pp. (1999)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/
14_gomose%20de%20acacia.pdfConcentração e redistribuição de nutrientes nas folhas e no folhedo em um povoamento de Acacia mearnsii De Wild. no Rio Grande do Sul. M.V.W. Caldeira; M.V. Schumacher; J.C. Pereira; J.B. Della-Flora; E.M. Santos. Ciência Florestal 9(1): 19-24. (1999)
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/
cienciaflorestal/article/viewFile/361/231Comparação entre as concentrações de nutrientes nas folhas e no folhedo em um povoamento de Acacia mearnsii De Wild. M.V.W. Caldeira; J.C. Pereira; M.V. Schumacher; J.B. Della-Flora; E.M. Santos. Revista Árvore 23(4): 489-492. (1999)
http://books.google.com.br/books?id=yzeaAAAAIAAJ&pg=
PA489&lpg=PA489&dq=%22Compara%C3%A7%C3%A3o+entre+as+
concentra%C3%A7%C3%B5es+de+nutrientes+nas+folhas+e+no+folhedo+
em+um+povoamento+de+Acacia+mearnsii+De+Wild.%22&source=bl&ots=
8-90S2VVED&sig=6SCGbMNJrLW8TUj0y1bXHLBOkZs&hl=pt-BR&ei=
o8BkTrqfIsTx0gGk3umuCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=
2&ved=0CBoQ6AEwAQ#v=onepage&q=%22Compara%C3%A7%C3%
A3o%20entre%20as%20concentra%C3%A7%C3%B5es%20de%20nutrientes%
20nas%20folhas%20e%20no%20folhedo%20em%20um%20povoamento
%20de%20Acacia%20mearnsii%20De%20Wild.%22&f=falseQuantificação de tanino em diferentes povoamentos de Acacia mearnsii De Wild. M.V.W. Caldeira; M.V. Schumacher; E.M. Santos; J. Viegas; J.C. Pereira. Embrapa Florestas. Boletim de Pesquisa Florestal 37(01): 81-88. (1998)
http://www.cnpf.embrapa.br/publica/boletim/boletarqv/boletim37/mcaldeira.pdfQuantificação da biomassa e do conteúdo de nutrientes em diferentes procedências de acácia-negra (Acacia mearnsii De Wild.). M.V.W. Caldeira. Orientação: M.V. Schumacher. Dissertação de Mestrado. UFSM - Universidade Federal de Santa Maria. 96 pp. (1998)
http://books.google.com/books/about/Quantifica%C3%A7%
C3%A3o_da_biomassa_e_do_conte%C3%BA.html?id=cH7qZwEACAAJProdução de biomassa em um povoamento de Acacia mearnsii De Wild. no estado do Rio Grande do Sul. J.C. Pereira; M.V. Schumacher; J.M. Hoppe; M.V.W. Caldeira; E.M. Santos. Revista Árvore 21(4): 521-526. (1997)
http://books.google.com.br/books?id=tz6aAAAAIAAJ&pg=PA445&lpg=
PA445&dq=%22Produ%C3%A7%C3%A3o+de+biomassa+em+um+povoamento+
de+Acacia+mearnsii+De+Wild.+no+estado+do+Rio+Grande+
do+Sul%22&source=bl&ots=t-Z9XqplPx&sig=VpmCSEUxXk5HasIbwqJQF16xifc&hl=
pt-BR&ei=vMFkTrHWHIjf0QGOmdmxCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=
6&ved=0CEMQ6AEwBQ#v=onepage&q=%22Produ%C3%A7%C3%A3o%20de
%20biomassa%20em%20um%20povoamento%20de%20Acacia%20mearnsii
%20De%20Wild.%20no%20estado%20do%20Rio%20Grande%20do%20Sul%22&f=falseAplicação de diferentes doses de bacsol e orgasol em sementes de acácia-negra (Acacia mearnsii D. Wild.) e seu desenvolvimento no viveiro. J.M. Hoppe; M.V. Schumacher; F.F. Quevedo; R. Thomas; J.C. Vivian; T. Fontana. Relatório Técnico UFSM. 119 pp. (s/d = sem referência de data)
http://rsa.ind.br/midia/Bacsol%20Orgasol-UFSM.pdf#page=4Crescimento inicial de Acacia mearnsii De Will relacionado a doses de N, P e K. M.V. Schumacher; J.M. Hoppe; H.L.M. Vogel; J.V.M. Silva; G.P. Dal Ross; E.M. Santos. Setaonline. Formulário de Pesquisa 12. 06 pp. (s/d)
http://www.setaonline.com/uploads/formulario_pesquisa_12.pdfNitrogen compartimentalization in a silvopastoral system. F.N. Calil; M.V. Schumacher; R. Witschoreck. 10 pp. Eurosoil. (s/d)
http://www.bodenkunde2.uni-freiburg.de/eurosoil/abstracts/id257_Calil_full.pdfAvaliação da mato-competição em plantio com mudas de Acacia mearnsii De Wild. J.M. Hoppe; M.V. Schumacher; J.V.M. Silva; G.P. Dal Ross; E.M. Santos. Setaonline. Formulário de Pesquisa 9. 06 pp. (s/d)
http://www.setaonline.com/uploads/formulario_pesquisa_9.pdfInfluência do tipo de preparo de solo no crescimento de plantas de Acacia mearnsii De Wild. através do plantio de mudas. M.V. Schumacher; J.M. Hoppe; R.S. Corrêa; J.V.M. Silva; G.P. Dal Ross; H.L.M. Vogel; E.M. Santos. Setaonline. Formulário de Pesquisa 15. 06 pp. (s/d)
http://www.setaonline.com/uploads/formulario_pesquisa_15.pdf
Curiosidades e Singularidades acerca dos Eucaliptos
por Ester Foelkel
(http://www.celso-foelkel.com.br/ester.html)Vigas de Madeira de Eucalipto para Usos Estruturais na Construção CivilIntrodução
A madeira de florestas plantadas está em franca ascensão como matéria-prima de elementos estruturais da construção civil (Barr et al., 2010; Mello e Melo, 2004). A crescente busca pela sustentabilidade nos mais variados ramos da engenharia civil estrutural tem feito com que o eucalipto seja uma opção cada vez mais viável tanto economicamente quanto ambientalmente. Isso pode ser explicado pelo rápido crescimento, pelo manejo ecologicamente correto e pela certificação de grande parte dos povoamentos do gênero presentes no Brasil (Oliveira, 2009; Lobão, 2002).
A madeira já foi muito utilizada no passado em estruturas para edificações, voltando a ganhar espaço na atualidade em relação ao ferro e principalmente ao concreto por questões ambientais (Wikipédia, 2011; Postes Mariani, s/d).
As vigas são elementos estruturais horizontais de alta relevância, estando praticamente presentes em edificações desde as de pequeno até as de grande porte, realizando a distribuição uniforme das cargas presentes entre as seções de apoio (Wikipédia, 2011; Lobão, 2002). Essa estrutura ajuda a reduzir as tensões e a transmitir de forma concentrada os pesos, principalmente da laje aos pilares de sustentação das construções. As vigas também são capazes de suportar a flexão entre os vãos, tolerando forças gravitacionais verticais e ajudando na estabilidade e segurança da edificação. Também são elementos de alta importância em caso de ventos e de terremotos (os quais exercem forças horizontais), auxiliando na redistribuição de forças aos pilares e outros membros auxiliares da estrutura (Wikipédia, 2011).
As vigas de madeira podem ser roliças (utilizadas para construções pequenas e rústicas), serradas ou aplainadas e de madeira reconstituída, lamelada ou colada (Cecchini, 2010). As peças podem ser utilizadas na construção civil pesada tanto para a parte externa quanto para a interna (Nahuz, 2010). O tamanho, tipo de viga e dimensionamentos em uma obra vão depender principalmente do seu propósito, necessitando de projetos desenvolvidos principalmente por engenheiros e arquitetos para que ocorram poucos deslocamentos estruturais, promovendo ao mesmo tempo elasticidade (Cecchini, 2010; Wolenski et al.; s/d). Tecniwood (s/d) apontou que as vigas podem ser empregadas nos mais diversos tipos de edificações tais como em prédios, em moradias, em piscinas, em pontes, em pérgulas, em auditórios, em pavilhões, além de centros comerciais e outras construções destinadas ao lazer. Cecchini (2010) comentou que o custo de obras que demandem mais detalhes complementares de carpintaria pode aumentar, chegando até a 20% do total.
Apesar da sua grande relevância, ainda há poucos estudos que envolvam a madeira do eucalipto como matéria-prima de elementos estruturais tais como as vigas (Barr et al., 2010). Dessa forma, o presente texto técnico visa compartilhar conhecimentos sobre essa estrutura, dando ênfase aos seus principais tipos, propriedades, vantagens e desvantagens, além de aspectos relacionados à durabilidade da madeira para a função.
Tipos de vigas
Cecchini (2010) explicou que as vigas e os pilares são pregados, encaixados, parafusados ou ligados por ferragens, gerando uma armação que corresponde ao esqueleto de uma residência. Uma das principais formas de diferenciação das vigas é a partir de como são ligadas em seu apoio, podendo basicamente ser classificadas em (Wikipédia, 2011):
Viga em balanço: também chamados de consoles, apresentam apenas um apoio onde é fixada.
Viga biapoiada: como o próprio nome já diz, a estrutura possui apoio dublo podendo ainda ser simples ou biengastada.
Viga contínua: onde recebe várias ligações ao longo do seu comprimento, tendo assim diversos apoios para sua sustentação. Essas são as vigas mais comuns em pontes de madeira, de concreto ou mistas (fabricada com diferentes matérias-primas). Isso porque, apesar dos apoios, grande parte da peça permanece “livre”, permitindo deslocamentos necessários para evitar o cisalhamento e garantir a segurança e a estabilidade.
Outra classificação é a partir da matéria-prima utilizada para sua formação. Existem atualmente vigas de concreto, de aço, de madeira sólida, de madeira reconstituída ou ainda peças híbridas que misturam várias camadas de produtos distintos em sua constituição (Oliveira, 2009; Tecniwood, s/d).
As vigas de madeira reconstituída, por sua vez, podem ser fabricadas com OSB (chapas de flocos orientados), com MDF (chapas de fibras de média densidade) ou com lâminas de madeira (MLC = madeira laminada colada) (Aprilanti, 2010; Fagundes, 2003). O último autor destaca que as vigas de madeira lamelada e colada apresentam lâminas de madeira com no máximo 45 mm de espessura as quais são coladas sob elevada pressão com adesivos à prova de água. Isso confere elevada resistência mecânica às peças (Lobão e Gomes, 2006). Elas são bastante procuradas para a distribuição de pesos em pavimentos e em coberturas (flexão simples), em pórticos (flexão desviada) e em pilares (flexão composta) (Tecniwood, s/d).
Lobão e Gomes (2006) avaliaram a qualidade de adesão de vigas lameladas de madeira de eucalipto contendo duas densidades distintas. Não houve diferença de resistência entre os corpos de prova colados e os de madeira sólida para a de menor densidade; porém, os resultados foram superiores para as peças que continham lâminas coladas paralelamente à direção das fibras.
Vantagens das vigas em madeira
Além dos benefícios ambientais, existem vários outros que fazem com que a madeira seja uma alternativa mais vantajosa ao aço e ao concreto para uso como elementos estruturais na construção civil.
A madeira em vigas tratadas pode ser mais resistente ao fogo do que as de aço ou de concreto. Pinto e Calil Jr. (2003) explicaram isso devido ao processo lento de degradação das fibras no interior das vigas e pela baixa condutividade térmica que o carvão apresenta, impedindo que suas camadas internas sejam submetidas às elevadas temperaturas.
Além disso, as vigas de madeira apresentam maior sensação de conforto, principalmente pelo isolamento térmico e acústico que a madeira confere. As vigas desse produto também são mais atrativas esteticamente, podendo resistir melhor aos ambientes corrosivos como piscinas e locais próximos ao mar.
Barr e outros (2010) realizaram estudo de caso comparando o desempenho e vantagens de vigas de concreto e de madeira em edificações de médio porte. Os autores concluíram que a última apresenta maiores benefícios principalmente em termos ecológicos; porém, a manutenção dessas estruturas deve ser realizada frequentemente bem como a realização de sua reciclagem no final de sua vida útil.
Segundo Cecchini (2010) a madeira é mais leve do que o concreto, facilitando no uso de mão-de-obra para a montagem das vigas e limpeza da obra. O mesmo autor comentou que o custo inicial da construção, por exigir maiores detalhes e cuidados em encaixes, pode ser mais dispendioso; porém, posteriormente, a rapidez da montagem das vigas pode fazer com que os gastos sejam praticamente os mesmos entre as estruturas de madeira e as de concreto. Com relação a esse último, a madeira também causa menor impacto ambiental, gastando muito menos energia para ser produzida e beneficiada. Isso faz com que o eucalipto tenha potencial para a finalidade, principalmente por ser um recurso natural reciclável e renovável. Assim que suas florestas são colhidas, há o plantio de novos indivíduos na mesma área, garantindo reserva desse produto para as próximas gerações (Barr et al., 2010; Oliveira, 2009; Postes Mariani, s/d, Tecniwood, s/d). Os eucaliptos podem ser plantados comercialmente próximos aos centros urbanos ou aos locais de beneficiamento, diminuindo os custos do transporte de toras e posteriormente das vigas (Calil Jr. e Brito, 2010). As vigas também podem ser confeccionadas com resíduos de serrarias, tais como as elaboradas com chapas de madeira reconstituída ou lâminas. Isso confere agregação de valor às sobras de outros processos (Lobão e Gomes, 2006; Fagundes, 2003). O uso de madeiras coladas e reconstituídas é uma das poucas formas de conseguir vigas longas, vencendo vãos superiores a 6 metros (Cecchini, 2010; Azambuja e Mattos, s/d).A madeira do eucalipto, apesar de menos densa do que a de algumas espécies nativas tradicionalmente empregadas na construção civil, não apresenta diferença na qualidade das vigas. Dessa maneira, ela pode inclusive diminuir a utilização da madeira dos ipês, da maçaranduba, da canafístula, da andiroba, entre outras árvores nativas (Calil Jr. e Brito; 2010; Oliveira, 2009; Mello e Melo, 2004).
Baêta e Sartor (1999) registraram as propriedades mecânicas de Eucalyptus citriodora e de outras árvores endêmicas do Brasil comumente usadas em edificações. Os autores compararam as propriedades mecânicas e os pesos específicos de inúmeras espécies de madeiras, concluindo que as mesmas tinham boas qualidades para usos estruturais, entre as quais as do eucalipto. Entretanto, cada utilização merece uma avaliação específica, sendo que os autores mostram com detalhes as formas de se avaliar esses cálculos estruturais.
Produtos estruturais madeireiros são bastante sensíveis à umidade, devendo-se evitar essa matéria-prima em locais onde haja contato direto da madeira com a água. O ideal é a realização de tratamentos com produtos conservantes, prolongando a vida útil das peças de eucalipto por períodos até mesmo superiores a 20 anos. O tratamento de vigas de madeira sobre pressão previne o ataque de agentes depreciadores da sua resistência mecânica e de sua estética tais como térmites e fungos (Postes Mariani, s/d).
O uso de vigas híbridas (contendo além da madeira, o concreto, o aço ou outros materiais como fibras de vidro) é uma alternativa para reforçar a estrutura em locais de alta umidade (Cecchini, 2010; Oliveira, 2009). As vigas híbridas geralmente são mais resistentes do que as que possuem apenas um material, o que possibilita o uso de espaçamentos maiores entre as mesmas (maiores vãos) (Azambuja e Mattos, s/d). O uso de vários materiais em uma única viga também pode ajudar a compensar os defeitos da madeira, principalmente para aqueles que diminuem a tração.
Miollo citado por Oliveira (2009) estudou a resistência de vigas híbridas contendo madeira do eucalipto comparando seus resultados aos dos outros materiais puros. O autor relatou que o uso de fibras de vidro pode tornar a viga 134% mais rígida e 28% mais resistente.
Propriedades das vigas confeccionadas com madeira de eucalipto
As vigas podem possuir diferentes formas de seção, também conhecidas como perfis (modelos de vigas). São encontrados na engenharia estrutural o perfil em “I”, o perfil em “H”, o perfil em “U”, o perfil em “T” e o perfil em “L”. Os dois primeiros são os mais utilizados em construções, principalmente pelo fato da maioria das estruturas estarem longe do eixo neutro, aumentando a rigidez dos mesmos. Dessa maneira, o perfil em “I” consegue conferir flexão ao eixo tanto para cima quanto para baixo, sendo considerado altamente eficiente por apresentar alta resistência quando relacionado ao seu peso (Cunha e Matos, 2010). Já os outros perfis, são usados em casos mais específicos da engenharia civil (Wikipédia, 2011).
Em qualquer tipo de perfil, cálculos são necessários para se determinar o máximo de peso que a viga consegue suportar e ao mesmo tempo transferir. As tensões de cisalhamento (esforços cortantes) são as características mais estudadas para as vigas. O local de aplicação das vigas também pode ser calculado pelo momento fletor (Wikipédia, 2011; Pinheiro et al., 2010; http://www.youtube.com/watch?v=j1hYUFcRzqk). A norma brasileira NBR7190/07 estabelece quais os testes que devem ser empregados às vigas para a constatação das tensões admissíveis às mesmas. Vários cálculos da engenharia podem ser realizados; porém, o de flexão simples é o mais empregado e leva em conta a finalidade, a densidade e a rigidez média da madeira do lote, além da percentagem da umidade da mesma (Lobão, 2003).
De acordo com Azambuja e Mattos (s/d) existem três fatores a serem observados nas vigas de madeira serrada. Eles são: limitações de tensões (que incluem tensões derivadas do momento fletor e tensões tangenciais do esforço cortante - cisalhamento), limitações de deformações e a avaliação da estabilidade das estruturas.
A preocupação em relação à qualidade da madeira para elementos estruturais de edificações sempre existiu. É por essa razão que novos estudos para geração de tecnologias que minimizem os defeitos da madeira do eucalipto e que reduzam a variação das propriedades mecânicas dos mesmos deveriam ser incentivados. Além disso, também necessitam de maiores incentivos as pesquisas visando a esclarecer as propriedades de vigas mistas nos mais variados perfis, além da avaliação da madeira reconstituída para a finalidade (Wikipédia, 2011).
Diversos trabalhos técnicos relacionados à avaliação de propriedades de vigas de eucaliptos já foram desenvolvidos. Seguem alguns dos resultados:
Aprilanti (2010) analisou a influência de emendas em vigas laminadas de Eucalyptus grandis na resistência das mesmas. Foram realizados testes de flexão estática não destrutiva e determinados os módulos de elasticidade à flexão estática nos corpos de prova. Foi constatado que o corte provoca diferenças consideráveis na rigidez das vigas, o que foi explicado pela modificação do fluxo das tensões durante toda a extensão das mesmas. Isso pode diminuir a resistência à flexão da peça, pois o corte é como se fosse uma fissura ou um defeito da madeira.
Calil Jr. e Brito (2010) avaliaram as propriedades de diversas espécies de eucalipto tais como o modulo de elasticidade à flexão e o limite de resistência à flexão, comparando com os trabalhos já existentes na literatura. E. citriodora (Corymbia citriodora) foi a espécie com os dados mais semelhantes aos observados em valores teóricos encontrados para as propriedades padrões nas normas brasileiras. Porém, as espécies de madeira menos densas apresentaram variações no módulo de elasticidade em até 47%.
Santos et al., (2009) aprofundaram conhecimentos existentes sobre as vigas do tipo “I” de madeira reconstituída através do estudo das suas propriedades. Valores teóricos dos módulos de elasticidade, do momento fletor e do deslocamento vertical foram comparados para os resultados experimentais obtidos em dois tipos de vigas. Uma que apresentou em seu interior (alma) lâmina de compensado e a outra, que possuía alma com OSB. As peças que continham matéria-prima de compensado tiveram resultados mais similares aos encontrados na literatura; todavia, a resistência das vigas foram superiores para as que possuíam o OSB como alma.
Bartholomeu e Gonçalves (2007) avaliaram a qualidade de madeira de duas espécies de eucalipto com umidades distintas para a confecção de vigas. Para tanto foi utilizada a velocidade longitudinal de ondas de ultrassom, comparando os dados da pesquisa com os já existentes de módulo de elasticidade à flexão. Os resultados mostraram-se mais consistentes para o E. citriodora do que para o E. grandis nas amostras saturadas (umidade de 30%).
Pedrosa (2003) estudou as propriedades de vigas em “I” de madeira reconstituída (laminada e OSB) de Pinus taeda e de E. citriodora. Os testes objetivaram avaliar a contribuição de cada tipo de matéria-prima observada nos desempenhos dos elementos estruturais. O autor apontou melhores resultados ao OSB, evidenciando boa uniformidade nas propriedades analisadas tais como módulo de elasticidade, módulo de ruptura e a deflexão. As vigas de compensados de apenas uma das espécies testadas apresentaram maiores variações de resultados do que as de madeira reconstituída.
Durabilidade das vigas de eucalipto
Boa parte dos elementos estruturais de madeira está sujeita a ação de agentes químicos, físicos e biológicos que provocam a deterioração de suas propriedades, consequentemente podendo afetar tanto na qualidade da edificação quanto até mesmo na sua segurança (Calil Jr. e Brito, 2010; Postes Mariani, s/d). A durabilidade das vigas é uma característica extremamente importante, necessitando que apresentem bom desempenho durante toda sua vida útil. Brito (2011) apontou três fatores que influenciam na durabilidade de elementos estruturais de madeira, os quais são: detalhamento e execução do projeto de forma correta, o uso de tratamentos preventivos na madeira e manutenção/reparos regulares nas estruturas.
O bom uso da madeira para a sua adequada finalidade, aliando-se aos cálculos necessários de dimensionamentos para se evitar os excessos de pressão sobre os elementos podem prolongar sua vida útil (Lobão, 2002).
Uma das principais formas de aumentar a longevidade da madeira é através do seu tratamento preventivo com substâncias preservantes. Atualmente, no Brasil, grande parte dos tratamentos das vigas é realizada em Usinas de Preservação da Madeira (UPM’s) que seguem as normas NBR’s nº 8456, 9480, 12083, utilizando-se o processo de vácuo pressão em autoclaves especializadas para a impregnação de compostos químicos nos tecidos permeáveis da madeira (Postes Mariani, s/d; União Madeiras, s/d; Cobrire, s/d). Os tratamentos com substâncias químicas podem diminuir o ataque de insetos e de microrganismos na madeira, tornando-a mais longeva.
A durabilidade da madeira do eucalipto tratado sob pressão pode chegar a até 50 anos, caso receba a inspeção e os reparos adequados. Acabamentos posteriores com produtos que conferem a hidro repelência e com filtro solar a madeira são bastante comuns, em especial para vigas que estão expostas às intempéries climáticas (Postes Mariani, s/d).
Considerações finais
A madeira do eucalipto está cada vez sendo mais utilizada como elementos estruturais da construção civil. Porém, o conhecimento de suas características e propriedades é de extrema relevância para o seu melhor aproveitamento, aumentando sua durabilidade e sua resistência.
Vigas de madeira reconstituídas e mistas têm seu uso em ascendência. Caso bem empregadas, podem proporcionar inúmeros benefícios econômicos e ambientais. Mais incentivos à pesquisa de novas tecnologias e da descoberta de propriedades das vigas que possuem madeira de eucalipto deveriam ser promovidos. Isso ajudaria a diminuir o preço desses elementos estruturais tornando-os mais acessíveis à população de baixa renda e promovendo maior durabilidade e sustentabilidade às edificações.
Referências da literatura e sugestões para leitura
Observem a seguir alguns textos técnicos, notícias, teses e artigos científicos que versam sobre o uso da madeira dos eucaliptos para confecção de vigas utilizadas na construção civil. Diversos desses textos técnicos e científicos foram utilizados para a elaboração desse artigo. Neles também é possível conferir as principais vantagens, desvantagens e propriedades das madeiras utilizadas para essa finalidade.
É muito importante que vocês naveguem logo e façam a leitura dos materiais de seu interesse. Muitas vezes as instituições disponibilizam esses valiosos materiais por curto espaço de tempo ou então alteram os endereços de URL devido a modernizações em seus websites.The use of wood in construction. A triple bottom line assessment of the use of laminated wood in construction relative to reinforced concrete. C. Barr; A. Lam; W. Wei. NewSub. UBC-Vancouver. 25 pp. (2011)
http://mynewsub.com/site/wp-content/uploads/2011/01/
APSC261_SustainableAlternativesBuilding_Group02.pdfEstruturas com peças de madeira de florestas plantadas. L.D. Brito. CIMAD. Painel Florestal. (2011)
http://www.painelflorestal.com.br/_arquivos/
diversos/seminario_reflore_2011/08.pdfRigidez e resistência de vigas estruturais de madeira laminada colada e com perfil I compostas por diferentes adesivos. A.B. Cunha; J.L.M. Matos. Ciência Florestal 20(2): 345-356. (2010)
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/
cienciaflorestal/article/viewFile/1857/1202
http://www.bioline.org.br/pdf?cf10028Onde achar eucalipto tratado. M. Cecchini. Dicas da Arquiteta. (2010)
http://colunistas.ig.com.br/dicasdaarquiteta/tag/casas-de-madeira/Uso da madeira de florestas plantadas na construção civil e no mobiliário: tendências e perspectivas. M.A.R. Nahuz. MS Florestal. Apresentação em PowerPoint: 41 slides. (2010)
http://www.opec-eventos.com.br/msflorestal/dowload/marcio.pdfCisalhamento em vigas – Capítulo 13. L.M. Pinheiro; C.D. Muzardo; S.P. Santos. USP – Escola de Engenharia de São Carlos. 12 pp. (2010)
http://www.set.eesc.usp.br/mdidatico/concreto/
Textos/13%20Cisalhamento.pdfInfluência de um corte na borda tracionada de uma viga maciça simulando uma emenda de topo na lâmina inferior de vigas laminadas coladas. M.D. Aprilanti. Dissertação de Mestrado. ESALQ/USP – Universidade de São Paulo. 109 pp. (2010)
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/
tde-17032010-110600/fr.phpManual de projeto e construção de estruturas com peças roliças de madeira de reflorestamento. C. Calil Júnior; L.D. Brito. USP – Universidade de São Paulo. EESC – Escola de Engenharia de São Carlos. LaMEM - Laboratório de Madeiras e de Estruturas de Madeira. 332 pp. (2010)
http://www.madeiradeverdade.com.br/wp-content/themes/twentyten/
artigos/ManualDeProjetoEConstru%C3%A7%C3%A3oDeEstruturas.pdfInfluência do teor de umidade nas propriedades de adesão da madeira de Corymbia citriodora. J.P. Motta; R.C. Alves; J.T.S. Oliveira. Encontro de Iniciação Científica e Pós-Graduação. UNIVAP – Universidade do Vale do Paraíba. 04 pp. (2009)
http://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2009/anais/arquivos/1122_1439_01.pdfComportamento teórico e experimental de vigas de madeira em perfil I: efeito do tipo de alma na resistência, rigidez e deslocamento vertical. A.M.L. Santos; C. Henrique; S.D. Menezzi; G. Bortoletto Júnior. Scientia Forestalis 37(82): 131-141. (2009)
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr82/cap03.pdfVigas híbridas feitas com lâminas de eucalipto coladas, reforço de fibra de vidro (na base) e ganchos metálicos (no topo) para ligar a estrutura ao concreto. R. Oliveira. Madeira Total. (2009)
http://www.madeiratotal.com.br/noticia.php?id=4445&volta=noticias.php?cat=10Produção e avaliação de vigas de madeira laminada colada confeccionadas com lâminas de eucalipto. J.L. Miotto; A.A. Dias. Revista Tecnológica, Edição Especial. p. 35-45. (2009)
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevTecnol/article/viewArticle/8714Avaliação do comportamento mecânico ao cisalhamento de conectores de barras de aço com ganchos em vigas mistas de madeira laminada colada e concreto. E.P. Carvalho. Tese de Doutorado. UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais. 173 pp. (2008)
http://dspace.lcc.ufmg.br/dspace/bitstream/1843/PASA-8A2JDT/1/18.pdfComportamento de juntas coladas de madeira serrada de Eucalyptus sp. O.B. Plaster; J.T.S. Oliveira; C.P. Abrahão; R.L. Braz. Cerne 14(3): 251-258. (2008)
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/744/74411656009.pdfPredição do módulo de elasticidade à flexão em vigas de eucalipto saturadas e secas ao ar utilizando a velocidade longitudinal de ultra-som. A. Bartholomeu; R. Gonçalves. IV Conferencia Panamericana de Ensayos no Destructivos. Buenos Aires. 07 pp. (2007)
http://www.ndt.net/article/panndt2007/papers/66.pdfQualidade da adesão de madeira de eucalipto em corpos de prova colados em dois diferentes planos e densidades. M.S. Lobão; A. Gomes. Revista Cerne 12(2): 194-200. (2006)
http://www.dcf.ufla.br/cerne/artigos/10-02-20099237v12_n2_nt%2002.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/744/74412211.pdfCaracterización mecánica de viga cajón. V.H.V. Riveros. Trabalho de Titulação. Engenharia em Madeiras. Universidad Austral de Chile. 58 pp. (2006)
http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2006/fifv473c/doc/fifv473c.pdfDurability of laminated veneer lumber made from blackbutt (Eucalyptus pilularis). J. Carrick, K. Mathieu. 10ª DBMC - International Conference on Durability of Building Materials and Components. 09 pp. (2005)
http://www.irbdirekt.de/daten/iconda/06059016936.pdfEscoramento em edificações. Obras civis. CEHOP – Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas. 13 pp. (2004)
http://200.199.118.135/orse/esp/ES00062.pdfConstructive systems using Eucalyptus logs for ecological parks in central Brazil. R.L. Mello; J.E. Melo. EWPA – Engineered Wood Products Association. 04 pp. (2004)
http://www.ewpa.com/Archive/2004/jun/Paper_207.pdfNew advances for the application of Eucalyptus as structural wood. J.A. Santos; A.C.M. Pinho. Silva Lusitana 12(1): 43 – 50. (2004)
http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/slu/v12n1/12n1a04.pdfAnálise experimental de um modelo reduzido de uma ponte mista de madeira-concreto utilizando vigas de madeira roliça. P.G.A. Segundinho; J.A. Matthiesen. IX Encontro Brasileiro em Madeiras e em Estruturas de Madeira. Cuiabá. 15 pp. (2004)
http://www.ppgec.feis.unesp.br/producao2004/An%E1lise%
20experimental%20de%20um%20modelo%20reduzido%20de%20
uma%20ponte%20mista%20de%20madeira-concreto%20
utilizando%20vigas%20de%20madeira%20roli%E7a.pdfEstruturas de madeira. F.A.R. Gesualdo. Notas de aula. Universidade Federal de Uberlândia. 98 pp.(2003)
http://usuarios.upf.br/~zacarias/Notas_de_Aula_Madeiras.pdfPerformance de vigas “I” constituídas por flanges de PLP e almas de compensado de Pinus taeda L. e Eucalyptus dunnii Maiden, e alma de OSB de Pinus spp. A. L. Pedrosa. Dissertação de Mestrado. UFPR – Universidade Federal do Paraná. 119 pp. (2003)
http://www.ipef.br/servicos/teses/arquivos/pedrosa,al.pdfEstudo teórico e experimental sobre a degradação térmica e os gradientes térmicos da madeira de Eucalyptus de uso estrutural exposta ao fogo. E.M. Pinto; C. Calil Júnior. Minerva 3(2): 131-140. (2003)
http://www.fipai.org.br/Minerva%2003(02)%2001.pdfComportamento de vigas retas em MLC com emendas de topo e bisel – parte II. A.M. Nascimento; R.M.D. Lucia; F.C. Baeta. Floresta e Ambiente 10(2): 19 – 29. (2003)
http://www.floram.org/volumes/vol10_n2-2003/Vol10%20no2%2019A29.pdfDiagnóstico da produção de madeira serrada e geração de resíduos do processamento de madeira de florestas plantadas no Rio Grande do Sul. H.A.V. Fagundes. Dissertação de Mestrado. UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 173 pp. (2003)
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183
/4567/000412901.pdf?sequence=1Madeira: Uso sustentável na construção civil. G.J. Zenid et al. IPT. 60 pp. (2003)
http://www.sindusconsp.com.br/downloads/prodserv/
publicacoes/manual_madeira_uso_sustentavel.pdfAvaliação experimental de vigas com emendas de topo coladas com cobrejuntas de madeira de eucalipto. M.S. Lobão. Tese de Doutorado. UFV – Universidade Federal de Viçosa. 64 pp. (2002)
http://www.tede.ufv.br/tedesimplificado/tde_arquivos/4/TDE-2007-
10-22T093558Z-904/Publico/texto%20completo.pdfProyecto vigas laminadas. Ritim - Red Instituciones de Desarrollo Tecnológico de la Industria Maderera. 02 pp. (2002)
http://www.ritim.org.ar/espanol/Descargas/proyectoVigasLaminadas.pdfResistência dos materiais e dimensionamento de estruturas para construções rurais. F.C. Baeta; V. Sartor. Construções Rurais. UFV – Universidade Federal de Viçosa. 46 pp. (1999)
http://agronomiaufs.com.br/arquivos.professores/Construcoes%20Rurais
/resistencia%20dos%20materiais%20e%20dimensionamento%20de%20estruturas.pdfUtilização da madeira comercial do híbrido de Eucalyptus urophylla S.T. Blake x Eucalyptus grandis Hill ex Maiden na confecção de vigas laminadas coladas. I. R. Nielsen. Dissertação de Mestrado. UFPR – Universidade Federal do Paraná. 123 pp. (1998)
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/25331/
D%20-%20NIELSEN%2c%20INGRID%20RAQUEL.pdf?sequence=1Utilização da madeira em construções rurais. C. Calil Júnior; A.A. Dias. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental I: 71-77. (1997)
http://www.agriambi.com.br/revista/v1n1/071.pdfTensões de flexão nas vigas. S.S.O. Buffoni. UFF – Universidade Federal Fluminense. 20 pp. (s/d = sem referência de data)
http://www.professores.uff.br/salete/res1/aula11.pdfMétodos de tratamentos de preservação de madeiras. C.R. Gurski. UNIUV - Centro Universitário de União da Vitória. 26 pp. (s/d)
http://engmadeira.yolasite.com/resources/Métodos%20de%20tratamento.pdfConstructive method of an Eucalyptus laminated timber edification. E.V.M. Carrasco; C.M. Teixeira; C. Paoliello. WSU – Washington State University. 07 pp. (s/d)
http://timber.ce.wsu.edu/Resources/papers/P48.pdfSaligna laminated beams. Technical data. Superspan Timber Structural Systems. (s/d)
http://www.ibeams.co.za/images/lam_saligna_specs.pdfVigas de madeira laminada e colada submetidas à flexão simples. E. Azambuja; A.P.M. Mattos. Técnicas e Estruturas II. FAU – PUCRS. (s/d)
http://www.feng.pucrs.br/professores/mregina/ARQUITETURA_-
_Materiais_Tecnicas_e_Estruturas_II/estruturas_ii_aula_05_dimensionamento_vigas.pdfVigas lameladas coladas. Tecniwood. 05 pp. (s/d)
http://projectos.tecniwood.pt/xFiles/scContentDeployer_pt/docs/articleFile15.pdfVigas de madeira lamelada-colada. Tecniwood. 02 pp. (s/d)
http://projectos.tecniwood.pt/xFiles/scContentDeployer_pt/docs/articleFile23.pdfResumo: Verificação da validade sobre a hipótese de pequenos deslocamentos em vigas de madeira do gênero Eucalyptus. A. L. Christoforo; A.R.V. Wolensnki; T.H. Panzera; P.C.M. Lamim Filho; F.B. Batista. Fascículos UNESP 29(1). (s/d)
http://jaguar.fcav.unesp.br/RME/fasciculos/v29/v29_n1/A5_Resumo.pdfAlgumas imagens sobre vigas, caibros, colunas e longarinas obtidas de madeiras de eucaliptos (apenas para referenciar imagens e informações técnicas – não devem ser entendidas como indicações comerciais)
http://www.google.com.br/search?tbm=isch&hl=pt-BR&source=
hp&biw=1280&bih=521&q=vigas+madeira+eucalipto&gbv=2&oq=
vigas+madeira+eucalipto&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=
618l5851l0l6314l23l22l0l15l15l0l287l1540l0.3.4l7l0 (Vigas de madeira de eucalipto. Imagens Google)
http://www.google.com.br/search?tbm=isch&hl=pt-BR&source=
hp&biw=1280&bih=521&q=caibros+madeira+eucalipto&gbv=2&oq=
caibros+madeira+eucalipto&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=
1414l8898l0l10779l27l26l0l22l0l0l314l905l0.1.2.1l4l0 (Caibros de madeira de eucalipto. Imagens Google)
http://www.google.com.br/search?q=colunas%20eucalipto&hl=pt-
BR&prmd=ivns&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&biw=1280&bih=499&wrapid=
tlif131176975153121&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=
N&tab=wi#q=colunas+madeira+eucalipto&um=1&hl=pt-BR&tbm=
isch&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=9a414e8963a0234d&biw=
1280&bih=521 (Colunas de madeira de eucalipto. Imagens Google)
http://www.google.com.br/search?um=1&hl=pt-BR&biw=1280&bih=
499&tbm=isch&sa=1&q=eucalyptus+wood+beam&oq=eucalyptus+wood
+beam&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=
12172l13781l0l14547l5l5l0l0l0l0l375l672l2-1.1l2 (“Eucalyptus wood beam”. Imagens Google)
Websites de empresas (apenas para referenciar imagens e informações técnicas – não devem ser entendidas como indicações comerciais):
http://www.chapasdemadeirite.com/TABUA%20E%20VIGAS
%20DE%20EUCALIPTO.html (Floresta Representações de Madeiras. Produtos)
http://www.cobrire.com.br/estrutura-de-madeira.htm (Cobrire. Estruturas de madeira)
http://www.diamade.com.br/industrias.php (Diamade. Produtos)
http://fermade.yolasite.com/madeira-de-eucalipto-e-pinus.php (Fermade madeiras. Produtos)
http://www.jobb.com.br/index.php?categoryID=123 (Madeireira Jobb. Vigas e vigoletes)
http://www.kaskamadeira.com.br/site/index.php?
option=com_content&view=article&id=51&Itemid=63 (Kaska madeiras. Vigamento de eucalipto)
http://www.postesmariani.com.br/construcao.php?menu=produtos (Postes Mariani. Produtos)
http://www.tecniwood.pt/ (Tecniwood)
http://www.tratasul.com.br/menuProduto/showroom.html (Tratasul. Galeria de fotos)
http://www.uniaomadeirastratadas.com.br/produtos.php (União madeiras. Produtos)
Artigo Técnico por Celso Foelkel
Princípios, Critérios e Indicadores de Manejo Florestal Sustentável para as Florestas Plantadas
A manutenção da capacidade produtiva das áreas florestais sempre foi uma das principais preocupações das empresas plantadoras de florestas. Com a busca e utilização de técnicas de manejo adequadas, o objetivo é se garantir a perpetuidade da produtividade florestal, sem esgotar, portanto, a capacidade de um determinado ecossistema em se manter produtivo no longo prazo. Entretanto, produtividade é apenas um dos inúmeros quesitos para a gestão sustentável das florestas. Isso porque florestas plantadas são muito mais que apenas áreas de cultivo de árvores para produção de madeira para uso industrial ou doméstico. Elas são ecossistemas complexos que envolvem não apenas a área de árvores plantadas, mas todo um intrincado mosaico incluindo áreas de preservação permanente (áreas ripárias, áreas alagadiças, margens de rios, entorno de nascentes, etc.), áreas de reserva legal e outras áreas cultivadas agricolamente nos seus entornos. Nessas áreas não existem apenas árvores a usufruir dos recursos naturais, mas também outros vegetais (flora, que vai desde as plantas superiores até a micro-vida vegetal do solo), animais (fauna, micro-fauna e pessoas humanas) e, inclusive, minerais (argilas, areias, aflorações rochosas e pedregosas do solo, etc.). Enfim, são ecossistemas complexos e a responsabilidade do usuário desse ecossistema é de não prejudica-lo, e sim de melhorá-lo.
Até meados dos anos 90’s, não havia uma clara visão de como se proceder para aperfeiçoar os manejos florestais de forma a causar mínimos impactos ambientais negativos nesses ecossistemas e também em como se poderia melhorar o nível de sustentabilidade desses complexos sistemas. A preocupação maior era se cultivar as florestas plantadas como se fazia nas demais atividades agrícolas – plantando, gerenciando as operações e colhendo as árvores. Quando muito, havia uma preocupação de manter esse solo produtivo, pelo menos no médio prazo.
Quando da realização da ECO 92 (United Nations Conference on Environment and Development – UNCED), na cidade do Rio de Janeiro, um magno evento mundial também conhecido como “Earth Summit” (http://pt.wikipedia.org/wiki/ECO-92), foi lançado um importante documento denominado “Declaração das Florestas”, uma espécie de guia de sugestões para a proteção e responsabilização das florestas do planeta. Entretanto, não bastava apenas proteger e conservar, proibindo. As florestas sempre foram grandes produtoras de bens e serviços para a humanidade. Logo, havia necessidade de proteger as florestas, mantendo a produção desses benefícios indispensáveis ao ser humano.
Logo após a ECO 92, diversos grupos de nações com características afins começaram a se mobilizar para discutir formas de medir, avaliar e desenvolver o que se denominou de sustentabilidade florestal. Em 1993, ocorreu um evento de trabalho em Montreal (Canadá) contando com a presença de uma dezena de nações não europeias para discutir critérios para o desenvolvimento sustentável de florestas boreais e temperadas, que eram comuns a esses países. Isso deu origem a diversos grupos de trabalho para a geração de critérios e indicadores para esse tipo de florestas, no que se chamou de “Processo de Montreal”. Esse processo foi tendo desdobramentos e novas adesões. Também ocorreram outros processos intergovernamentais (entre nações) tais como:
• Processo de Helsinki – para desenvolver princípios, critérios e indicadores de sustentabilidade para as florestas europeias;
• Processo ITTO – International Tropical Timber Organization – mesmos objetivos, mas para as florestas tropicais;
• Processo de Tarapoto – para as florestas dos países da região amazônica.
Esses processos constituíram-se na base de diálogo e de entendimento entre as partes interessadas para a criação dos princípios, critérios e indicadores de forma a se garantir a saúde dos ambientes florestais, fossem eles de ocorrências totalmente naturais ou de plantações florestais.
Um entendimento que se tornou claro nesses processos é que não se poderia falar em sustentabilidade florestal sem que se privilegiasse a conexão fundamental entre florestas e gente. Portanto, nenhum país conseguiria atingir a sustentabilidade de suas florestas sem a participação efetiva de seu povo. Por isso, a transparência e o debate com as partes interessadas foram considerados vitais para o aperfeiçoamento dos princípios, critérios e indicadores (P&C&I). Por essa razão, é preciso ficar claro que todos esses P&C&I são muito mais que apenas padrões de performance ou de gestão. Eles abrigam todo um processo conceitual e desdobramentos que começam nos princípios básicos a serem obedecidos e terminam nos indicadores que são as evidências necessárias para se garantir que o adequado manejo florestal esteja sendo praticado. Apesar de terem sido criados com finalidades conceituais, eles foram transferidos para a prática efetiva a partir do momento que foram incorporados nos sistemas de certificação florestal.
A certificação de florestas (ou o selo verde florestal) passou a se desenvolver a partir dos anos 90’s e se consolidou ao término dessa década a nível mundial, com diversas iniciativas globais e outras locais. Destacaram-se de imediato as iniciativas e programas tais como: FSC – Forest Stewardship Council; PEFC – Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes; Sustainable Forest Initiative da AP&PA - American Forest & Paper Association, ISO 14001 – Documento ponte sobre linhas mestras para as florestas sustentáveis; WBCSD – World Business Council for Sustainable Development (Sustainable Forest Management), etc. Além disso, existiram diversas iniciativas de organizações não governamentais e iniciativas privadas, tais como: SGS Forestry (Qualifor), Rainforest Alliance (SmartWood) e SCS – Scientific Certification Systems (Forest Conservation Programme), dentre outros. Também surgiram sistemas de certificação florestal em muitos países, entre os quais o sistema Cerflor no Brasil.
Os programas e sistemas de certificação buscaram o envolvimento das partes interessadas, incluindo atores dos setores ambientais, sociais e produtivos. Com isso, foram lançadas as sementes de programas amplos, globais, participativos e com envolvimento da sociedade. Lembrem-se amigos, as florestas são ecossistemas ricos em fauna, flora, minerais e também em gente. Esse envolvimento foi facilitado pela alavancagem dada pela Internet, que tem sido notável ferramenta para as consultas públicas, debates, difusão de informações, etc. Definitivamente, esse tipo de processo tem sido vitorioso e vem conseguindo mostrar duas coisas muito importantes, até mesmo aos mais incrédulos:
• Mesmo partes interessadas com visões dramaticamente divergentes podem trabalhar juntas e atingir resultados consensuados;
• O envolvimento de toda a sociedade agrega enorme valor e fornece a necessária credibilidade que visa melhorar o maior bem que temos, que é a natureza, nesse caso, na forma de seus ecossistemas florestais (produtivos ou de conservação).
Sempre existiu algum tipo de confusão entre o que se denominou de princípios, critérios e indicadores. Alguns processos preferem apenas dois níveis ao invés de três e trabalham apenas com critérios e indicadores. Foram inúmeros os debates técnicos, científicos e conceituais para a eleição desses P&C&I. Eles são vitais tanto para se definir os limites do bom manejo florestal, como para dar suporte aos programas de certificação florestal. Os P&C&I fornecem a estrutura lógica para o estabelecimento e a construção das regras e procedimentos acerca do que se deve fazer para se ter um manejo florestal adequado. Também ajudam na comparação e compatibilização entre os vários sistemas de certificação florestal.
Vamos tentar separar esses três níveis hierárquicos conforme nosso melhor julgamento sobre isso:
› Princípios: são orientações mais amplas, que definem a moldura primária para o manejo florestal orientado para a sustentabilidade. São orientações de primeira ordem que expressam a sabedoria sobre as coisas relacionadas ao MFS - Manejo Florestal Sustentável. Referem-se às funções vitais das florestas e seus entornos gerenciais e devem “durar para sempre”.› Critérios: são desdobramentos de segunda ordem dos princípios, justamente para tentar operacionalizar os mesmos, sem, entretanto, oferecer elementos de medição ou de verificação. São padrões para dar funcionalidade aos princípios. O critério deve indicar o grau de concordância com o que se espera para atender ao princípio. O conjunto de critérios deve ser exaustivo para cada princípio para se ter certeza de que o princípio será obedecido ou atingido. Eles podem ser alterados e ajustados para não se tornarem obsoletos.
› Indicadores: são componentes do ecossistema florestal que podem ser medidos ou que oferecem evidências claras se os princípios e critérios estão sendo seguidos. Em alguns casos são numéricos (quantitativos), em outros, apenas evidências (qualitativos). Devem, por isso mesmo, serem elementos verificáveis do ecossistema ambiental ou dos sistemas produtivo e social. Os indicadores devem permitir se chegar a um veredito acerca de como, quanto e onde estão sendo alocados esforços para o atingimento do MFS. Eles indicam o estado ou as condições seguidas por um critério.
Em alguns sistemas foram também criados aquilo que se denominou de Verificadores. São limites ou especificações aplicáveis e requeridas para o cumprimento dos P&C&I. Por exemplo: um verificador pode ser a dosagem máxima de herbicidas a ser aplicada por hectare e o indicador é a quantidade efetivamente aplicada, que pode estar de acordo ou não com a especificação do verificador.
O objetivo dos P&C&I é construir um arcabouço de sabedoria, conhecimentos, informações, dados e evidências para favorecer e orientar ações e operações. Também visam a dar a requerida credibilidade ao processo todo. Com um adequado conjunto de P&C&I pode-se:
• Expressar, divulgar e tornar público o manejo florestal sustentável para as comunidades e partes interessadas;
• Avaliar o desempenho das atividades de manejo;
• Monitorar os impactos das intervenções do manejo;
• Registrar dados, avaliações, etc.;
• Entender as mudanças que estão ocorrendo no ecossistema florestal;
• Fornecer orientações para a elaboração das melhores práticas florestais;
• Elaborar e adaptar as estratégias de manejo;
• Inovar em relação às técnicas em uso para tornar as mesmas mais sustentáveis;
• Criar um entendimento amplo sobre as interações existentes;
• Garantir eficácia, efetividade e ecoeficiência nas práticas operacionais.
Esses diversos níveis hierárquicos às vezes geram confusões, por isso, alguns sistemas de certificação se limitam a converter os mesmos em apenas dois níveis, como já mencionamos antes: critérios e indicadores – isso para facilitar o entendimento das partes interessadas. Mas fazem isso sem alterar os objetivos vitais do processo.
De qualquer forma, os indicadores são exatamente as ferramentas de avaliação operacional. Eles são as peças vitais para ajudar na implantação e na manutenção de qualquer sistema de certificação florestal. Mesmo que a empresa florestal não deseje a certificação, mas deseja ter um manejo florestal sustentável, ela deve trabalhar com os P&C&I. Hoje, não basta apenas o empirismo, ou a boa vontade. Há que se ter acesso à sabedoria sobre as florestas, sejam elas naturais ou plantadas. Todo esse processo se apoia no que de melhor a ciência tem oferecido (ou virá ainda a oferecer). E quase tudo está acessível para conhecimento dos interessados na web. Portanto, uma empresa que não objetiva certificar suas florestas pode perfeitamente desenvolver um conjunto de indicadores de manejo com foco na sustentabilidade florestal e não apenas na produtividade das áreas efetivamente plantadas.
Indicadores de produtividade florestal são muito comuns na gestão florestal. São indicadores do desempenho das máquinas (p.e.: m³ de madeira colhida pelo “harvester” por hora) ou das pessoas (p.e.: número de mudas produzidas por homem-hora no viveiro). Relacionam-se também com a produtividade e crescimento das florestas (exemplo: IMA – Incremento Médio Anual em m³/ha.ano). Já os indicadores de sustentabilidade florestal são criados a partir os P&C do MFS.
Antes de lhes contar sobre quais seriam os princípios básicos do manejo florestal sustentável (ou do bom manejo florestal, como preferem alguns), vamos dar dois exemplos sobre essa hierarquia de níveis de sustentabilidade até agora discutidas.
Exemplo 01:
› Princípio: Conservação da diversidade ecológica› Critério: Preservar e/ou aumentar a população das espécies ameaçadas de extinção na unidade de manejo florestal
› Indicador: Levantamento de espécies da fauna em áreas de fragmentos, corredores e de efetivo plantio
› Verificadores: frequências mínimas de indivíduos e espécies em relação ao considerado normal para o bioma e região em questão
Exemplo 02:
› Princípio: Manutenção da saúde, integridade, funções e vitalidade do ecossistema
› Critério: Capacidade da floresta natural em se regenerar deve ser garantida
› Indicador: Corredores e fragmentos florestais naturais e intocáveis devem ser distribuídos na unidade de manejo florestal
› Verificador: relação mínima entre as áreas intocáveis e as áreas de efetivo plantio
O manejo das florestas plantadas é feito com base nos mesmos princípios e critérios definidos para as florestas naturais. Entretanto, existem adaptações frente às especificidades das plantações. Em especial, os indicadores e verificadores são desenvolvidos localmente, em função das características operacionais, da região e suas condições, etc. Eles variam em função da topografia, do nível de mecanização, do desenho do mosaico eco-florestal, do regime hídrico da região, da hidrologia e desenho das bacias e micro-bacias, dos tipos de solos, etc., etc.
A boa ciência e o adequado conhecimento das técnicas florestais e de seus impactos e interações socioambientais são vitais nesse processo. O objetivo é se produzir florestas com mínimos impactos negativos e excelentes efeitos positivos. Ou seja, devemos e precisamos produzir madeira (ou outros produtos florestais) para atender às demandas da sociedade por essas riquezas. Entretanto, precisamos fazer isso de forma sustentável, garantindo que os sítios florestais manterão sua produtividade e se enriquecerão em termos de outros elementos do ecossistema, como fauna, flora, água, solo, etc.
Para combinar produção com sustentabilidade, a empresa florestal deve ter foco não apenas na produtividade e produção da área efetivamente plantada com árvores comerciais, mas sobre uma grande e variada gama de P&C&I de MFS. Deve desenvolver seus indicadores e verificadores com sabedoria, determinação, ciência e competência.
O manejo florestal com foco na sustentabilidade deve ter como escopo a unidade de manejo florestal (que pode ser uma fazenda, ou uma micro-bacia, por exemplo), onde os vários componentes e integrantes do mosaico eco-florestal podem ser acompanhados, avaliados, medidos, monitorados e manejados.
As tecnologias e as práticas silviculturais devem ser criadas e utilizadas para estarem de acordo com os P&C. Os indicadores e os verificadores constituirão o ferramental para comprovar, demonstrar e aperfeiçoar o processo. As empresas produtoras de florestas plantadas, como partes interessadas e atuantes no processo, são na realidade as grandes alavancadoras para o desenvolvimento de técnicas operacionais e de inovações para que o MFS seja cada vez melhor e mais ecoeficiente. Como sustentabilidade é um processo sem-fim, sempre existirão novos desafios, novas tecnologias, novas formas de se fazer a silvicultura de plantar e colher árvores, etc.
Finalmente, como temos que manejar nossas unidades de manejo florestal com base na sabedoria e nos melhores conhecimentos disponíveis, o principal objetivo é o de desenhar todo o manejo florestal com base nos princípios fundamentais do manejo florestal. Eles foram desenvolvidos (e continuam a ser aperfeiçoados de forma consistente) com base no diálogo entre as partes interessadas e são basicamente os seguintes, conforme nosso entendimento dos diferentes processos que os definiram:• Conservação da diversidade ecológica (biodiversidade), envolvendo a diversidade dos ecossistemas, das espécies, dos germoplasmas, etc.;
• Manutenção (e até mesmo aumento) da capacidade de produção dos ecossistemas florestais (seja em termos de madeira, biomassa ou de outros produtos de origem florestal);
• Manutenção da saúde, vitalidade, integridade e funções dos ecossistemas;
• Perpetuidade do equilíbrio dinâmico entre a entrada e saída de energia e nutrientes no sítio florestal;
• Conservação e manutenção da qualidade dos solos florestais;
• Conservação e manutenção dos recursos hidrológicos da região;
• Capacidade de regeneração dos ecossistemas;
• Minimização dos impactos ambientais sobre: diversidade ecológica, recursos hídricos, solos, ecossistemas, paisagens frágeis e singulares, etc.;
• Manutenção e ampliação dos múltiplos benefícios socioambientais das florestas para atendimento das necessidades da sociedade;
• Garantia de que o ser humano tenha foco central no manejo florestal sustentável;
• Contribuição do manejo florestal sustentável para a redução da pobreza e para a geração de empregos;
• Atendimento dos requisitos legais, institucionais e econômicos para o sucesso do manejo florestal sustentável;
• Reconhecimento e respeito aos aspectos referentes à soberania das nações no desenho e implementação do manejo florestal sustentável;
• Capacidade de inovação para garantir o contínuo aperfeiçoamento do MFS de forma a se poderem entregar produtos e serviços florestais em processos cada vez mais sustentáveis;
• Busca do aperfeiçoamento do manejo florestal através da ciência, de experiências locais e do conhecimento tradicional;
• Responsabilidade em termos de direitos de posse e uso da terra;
• Relações comunitárias e direito dos trabalhadores;
• Direito dos povos indígenas e outras comunidades associadas à unidade de manejo florestal;
• Manutenção de sítios arqueológicos, paleontológicos e de interesse cultural e paisagístico;
• Manutenção das áreas florestais de alto valor de conservação;
• Incentivo ao uso eficiente dos múltiplos produtos e serviços obtidos das florestas;
• Desenvolvimento de plano de manejo para as unidades de manejo florestal que seja apropriado à intensidade das operações propostas;
• Desenvolvimento de planos de monitoramento e avaliação apropriados à escala e intensidade do manejo florestal;
• Garantia de que as plantações florestais propiciem benefícios para satisfação das demandas globais por produtos florestais sem causar prejuízos em relação a todos os princípios aplicáveis aos ecossistemas florestais;
• Garantia de oportunidades para que as partes interessadas tenham voz ativa nos debates e operacionalização do MFS;
• Privilégio da transparência, não discriminação, participação e colaboração;
• Garantia de que as operações florestais tenham foco na ecoeficiência, com mínimos desperdícios, perdas, retrabalhos, etc.;
• Valorização dos aspectos da renovabilidade das florestas e de seus aspectos positivos em relação a minorar as alterações climáticas;
• Manutenção da contribuição florestal para sequestro, armazenamento e ciclagem do carbono orgânico;
• Promoção da aceitação global do manejo florestal sustentável através de programas educacionais, de divulgação, etc.
Além desses princípios estabelecidos em processos internacionais, intergovernamentais e também através de composições entre Organizações Não Governamentais e setores produtivos, existem diversas propostas mais agressivas de entidades ambientalistas mais radicais em relação às plantações florestais como forma de produção de madeira. Algumas dessas entidades negam e rejeitam inclusive a certificação florestal de florestas plantadas, argumentando que essas plantações não são florestas e sim “agricultura em forma de monocultura extensiva”. Evidentemente, essas entidades têm seus motivos, mas costumam focar mais sobre as áreas de silvicultura e não sobre todo o mosaico eco-florestal. Essas organizações têm algumas demandas fortes em termos de P&C. Elas gostariam que fossem também obedecidas algumas de suas demandas, que estão fundamentalmente associadas a:
• Redução da monotonia do monocultivo;
• Minimização da exposição das áreas colhidas por corte raso (ou até mesmo, proibição do corte raso);
• Gestão da paisagem (evitar formação de clareiras pela colheita, por exemplo);
• Orientação do manejo florestal das florestas comerciais para modelos naturais (os que são usados pela própria natureza. Por exemplo: regeneração natural ao invés de plantios de mudas obtidas em viveiros, etc.);
• Priorização para a proteção dos recursos naturais e dos processos em evolução pela natureza;
• Preservação (ou mesmo, intocabilidade) dos bancos de patrimônio genético e de biodiversidade;
• Minimização das intervenções antrópicas (adoção de rotações mais longas com desbastes ao invés de corte raso em idades jovens);
• Priorização do “Princípio da Precaução” em todas as situações de dúvidas ou conflitos;
• Participação ativa das comunidades florestais nas decisões relacionadas ao uso da terra e dos produtos da floresta;
• Criação prévia de um plano para delimitação das áreas protegidas antes de se começar a gerar o plano de manejo florestal da área a ser plantada (primeiro se locar o ambiente e só depois, a atividade produtiva);
• Manutenção de áreas naturais de referência (áreas naturais protegidas e sem nenhum tipo de intervenção antrópica, exceto aquelas a serem feitas pelos pesquisadores);
• Divulgação pública de todas as observações e novos conhecimentos sobre MFS;
• Respeito e diálogo com as partes interessadas;
• Proibição da drenagem de áreas alagadas, várzeas, etc.;
• Proibição de uso de OGM – Organismos Geneticamente Modificados;
• Minimização do uso de pesticidas, fertilizantes químicos e agrotóxicos;
• Minimização da área de monocultura em relação à área de florestas naturais;
• Utilização de técnicas florestais com mínimas ações sobre solo, águas, etc. (cultivo mínimo, etc.)
Entretanto, a grande verdade é que a maioria dessas recomendações vem sendo também adotada e avaliada pelos pesquisadores da academia e das empresas florestais. Não podemos esquecer que a cultura ambiental permeou fortemente nas empresas florestais e nas universidades – a busca pela sustentabilidade favoreceu essa mudança de cultura em todas as organizações. Isso tem sido feito com o intuito de entender essas sugestões e de aproveitar alguns de seus conceitos às práticas atuais de manejo florestal. Definitivamente, pode-se dizer que os atuais modelos de MFS já incorporam inúmeras dessas recomendações das entidades ambientalistas, mas sem levar a extremismos. Com isso, os processos se aperfeiçoam passo-a-passo e os modelos de manejo florestal vão tendo seus níveis de sustentabilidade aprimorados. Afinal, também a natureza possui inúmeros ecossistemas que se assemelham às monoculturas, com extensas áreas de um mesmo tipo de ecossistema. Da mesma forma, os monocultivos com corte raso estão gradualmente migrando para alguns sistemas (alto fuste e agroflorestais) mais complexos, com múltiplos produtos e em rotações mais longas, com diversas colheitas intermediárias.
As coisas são dinâmicas, a ciência vai oferecendo novas oportunidades e a silvicultura vai encontrando novos modelos e caminhos. Certamente, em uns 20 anos mais, encontraremos modelos absolutamente melhores que os modelos que atualmente chamamos de MFS. Eles serão cada vez mais próximos dos ensinamentos oferecidos pela natureza. A pesquisa e a contínua busca da inovação vão nos ajudar a encontrar esses modelos; e isso vai acontecer sempre, pois é algo sem término. Tudo isso pode e deve acontecer com a participação das partes interessadas e deve ser feito sem prejudicar o atingimento dos benefícios que as florestas plantadas oferecem. Entre eles, está a missão de gerar produtos e serviços para a sociedade, colaborando com isso para a proteção e preservação dos remanescentes de florestas naturais do planeta. Dessa forma, estaremos sempre caminhando para a almejada e requerida sustentabilidade.
Referências de literatura e sugestões de leitura
A seguir, estamos disponibilizando para vocês uma seleção de websites e de textos/palestras que têm a missão de lhes ampliar o conhecimento sobre esse tema, o qual é vital para o sucesso da indústria de base florestal, em especial para a que se baseia em florestas plantadas.
É muito importante que vocês naveguem logo e façam a leitura dos materiais de seu interesse. Muitas vezes as instituições disponibilizam esses valiosos materiais por curto espaço de tempo ou então alteram os endereços de URL devido a modernizações em seus websites.
The Rio Forest Certification Declaration. Acesso em 24.11.2011:
http://www.rioforestcertificationdeclaration.org/en/index.php
http://pefc.org/resources/brochures/item/download/334 (Princípios da Declaração das Florestas do Rio de Janeiro)Criteria and indicators for sustainable forest management. FAO – Food and Agriculture Organization. Acesso em 24.11.2011:
http://www.fao.org/forestry/ci/20049/en/ (Documentos FAO sobre Manejo Florestal Sustentável)
http://www.fao.org/forestry/ci/16615/en/ (O Processo de Montreal)
http://www.fao.org/forestry/ci/16617/en/ (O Processo de Helsinki)
http://www.fao.org/forestry/ci/16613/en/ (O Processo ITTO)
http://www.fao.org/forestry/ci/16618/en/ (O Processo de Tarapoto)PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification. Acesso em 24.11.2011:
http://www.pefc.org/ (Website)
http://www.pefc.org/resources/brochures (Publicações e caixas de ferramentas)
http://www.pefc.org/standards/technical-documentation/pefc-international-standards-2010 (Padrões do PEFC)
http://www.pefc.org/standards/technical-documentation/pefc-guides-2010/pefc-guides (Guias do PEFC)Cerflor: Sistema Brasileiro de Certificação Florestal. INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Acesso em 24.11.2011:
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/cerflor.asp
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/cerflor_normasBrasileiras.asp (Normas brasileiras)FSC Brasil. Conselho Brasileiro de Manejo Florestal. Acesso em 24.11.2011:
http://www.fsc.org.br/index.cfm (Website)
http://www.fsc.org.br/arquivos/P&C%20originais%20português.doc (Princípios e critérios)
http://www.fsc.org.br/index.cfm?fuseaction=noticia&IDnoticia=73 (Perguntas frequentes)
http://www.fsc.org/ (Link para o website do FSC Internacional)IMAFLORA - Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. Acesso em 24.11.2011:
http://www.imaflora.org/ (Website)
http://www.imaflora.org/index.php/biblioteca/lista (Biblioteca)
http://www.imaflora.org/index.php/biblioteca/lista/filtrar/publicacao (Publicações)
http://www.imaflora.org/upload/repositorio/3_cartilha_
passos_para_certificacao_fsc.zip (Cartilha para a certificação florestal FSC)
http://www.imaflora.org/upload/repositorio/3_criterios_indicadores_sociais_
manejo_florestal_sustentavel.zip (Indicadores sociais para o manejo florestal sustentável)
http://www.imaflora.org/upload/repositorio/3_manual_manejo_florestal_FSC.zip (Manual do manejo florestal pelo sistema FSC)Padrão interino Rainforest Alliance/SmartWood para avaliação do manejo de plantações florestais no Brasil. IMAFLORA - Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. Acesso em 24.11.2011:
http://www.imaflora.org/index.php/biblioteca/detalhe/395#ctrlFsForest certification. Rainforest Alliance. Acesso em 24.11.2011:
http://www.rainforest-alliance.org/forestry/certificationNorth America’s SFI - Sustainable Forestry Initiative. Acesso em 24.11.2011:
http://www.sfiprogram.org/index.php (Website)
http://www.sfiprogram.org/sustainable_forestry_initiative_standard.php (Padrões do programa)
http://www.afandpa.org/whatwebelieve.aspx?id=1902 (Incentivo ao programa pela AF&PA – American Forest and Paper Association)SFI – Sustainable Forestry Initiative. Forest certification in Canada. Acesso em 24.11.2011:
http://www.certificationcanada.org/english/programs_used_in_canada/sfi.phpStandards for sustainable forest management in Canada. CSA – Canadian Standard Association. Acesso em 24.11.2011:
http://www.csa.ca/documents/publications/2418961.pdf (Padrões para áreas até 4.000 hectares)
http://www.csa.ca/documents/publications/2419617.pdf (Padrões para outras áreas maiores)Sustainable forestry. Principles, criteria, indicators. South Africa Department of Agriculture, Forestry and Fisheries. Acesso em 24.11.2011:
http://www2.dwaf.gov.za/webapp/SustainablePrinciples.aspx
Greenpeace International. Arquivos. Acesso em 24.11.2011:
http://archive.greenpeace.org/forests/forests_new/
html/content/reports/FSCmonitoring_guide.pdf (“Guide to monitoring FSC certifications”)
http://archive.greenpeace.org/geneng/reports/gmo/pulpfiction.pdf (“Pulp fiction- genetically engineered trees”)
http://www.greenpeace.org/international/PageFiles/25698/6759.pdf (“Greenpeace good wood guide”)WRM - World Rainforest Movement. Acesso em 24.11.2011:
http://www.wrm.org.uy/ (Website)
http://www.wrm.org.uy/publications/index.html (Publicações)
http://www.wrm.org.uy/Videos/index.html (Vídeos)Criteria & indicators for sustainable forest management. ITTO – International Tropical Timber Organization. Acesso em 24.11.2011:
http://www.itto.int/policypapers_guidelines/ (Coleção de guias e de publicações sobre P&C&I para florestas tropicais)Comparing sustainable forest management certifications standards: a meta-analysis. M.R. Clark; J.S. Kozar. Ecology and Society 16(1). 24 pp. (2011)
http://www.ecologyandsociety.org/vol16/iss1/art3/ES-2010-3736.pdfPadrão para avaliação de plantações florestais no Brasil. SGS Qualifor. 74 pp. (2010)
http://www.forestry.sgs.com/documents/sgs-ad-33-br-06-fm-standard-brazil-pt.pdfCódigo de boas práticas florestais. Grupo Portucel Soporcel. 97 pp. (2010)
http://backoffice.portucelsoporcel.net/dynamic-media/
files/gps-boas-praticas-florestais-20101102.pdfO que é desenvolvimento sustentável. J. Goldemberg. Revista Opiniões. (Setembro/Novembro). (2010)
http://www.revistaopinioes.com.br/cp/materia.php?id=689A busca da sustentabilidade. M.A. Fujihara. Revista Opiniões. (Setembro/Novembro). (2010)
http://www.revistaopinioes.com.br/cp/materia.php?id=686Brasil - Sustentabilidade na rede de valor do eucalipto. Floresta plantada a papel. C. Foelkel. Workshop Ecolabelling. UNEP/MDIC. São Paulo. Apresentação em PowerPoint: 59 slides. (2008)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/
Sustentabilidade%20SECEX_UNEP%202008.pdfIndicadores de sustentabilidade na prática agroflorestal: um estudo de caso no sítio São José, Sertão de Taquari, município de Paraty– RJ. G.M. Pollmann. Monografia de Conclusão de Curso. UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 46 pp. (2008)
http://www.if.ufrrj.br/inst/monografia/Gustavo_da_Motta_Pollmann.pdfCritérios e indicadores de sustentabilidade para bioenergia. A. Moret; D. Rodrigues; L. Ortiz. FBOMS - Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. 11 pp. (2006)
http://www.natbrasil.org.br/Docs/publicacoes/bioenergia.pdfThe forest certification handbook. R. Nussbaum; M. Simula. Earthscan. 300 pp. (2005)
http://books.google.com.br/books?id=oYnBeBO0qJkC&
printsec=frontcover&dq=The+forest+certification+handbook&hl=pt-
BR&ei=8H3OTo_MGajq0gGC3dTvDw&sa=X&oi=book_result&ct=
result&resnum=1&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=
The%20forest%20certification%20handbook&f=falseDiagnóstico e indicadores de sustentabilidade em fomento florestal no estado do Espírito Santo. P.R.S. Oliveira. Dissertação de Mestrado. UFV – Universidade Federal de Viçosa. 140 pp. (2003)
http://www.ipef.br/servicos/teses/arquivos/oliveira,prs-m.pdfCritérios e indicadores de sustentabilidade em florestas manejadas por comunidades. B. Ritchie; C. McDougall; M. Haggith; N.B. Oliveira. CIFOR – Center for International Forestry Research. 134 pp. (2001)
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/CMFPortuguese.pdfCritérios e indicadores de sustentabilidade para o manejo de florestas tropicais. A.P.C. Gomes. Dissertação de Mestrado. UFV – Universidade Federal de Viçosa. 118 pp. (2000)
ftp://ftp.bbt.ufv.br/teses/157368f.pdfCritérios e indicadores para a sustentabilidade da Floresta Amazônica: o processo de Tarapoto. R. Deusdará Filho; N.J. Zerbini. Brasil Florestal 71: 42 - 48 . (2001)
http://www.ibama.gov.br/ojs/index.php/braflor/article/viewFile/61/59Padrões de certificação florestal do FSC – Forest Stewardship Council – para o manejo. FSC – Forest Stewardship Council. 33 pp. (2000)
http://www.arvorelab.ufam.edu.br/usc/library/PlantacoesFlorestais.pdfDefinição de indicadores de sustentabilidade para sistemas agroflorestais. O. Daniel. Tese de Doutorado. UFV – Universidade Federal de Viçosa. 123 pp. (1999)
http://www.do.ufgd.edu.br/omardaniel/arquivos/docs/a_artigos/SAF/OmarTeseIntegra.pdfThe business of sustainable forestry: strategies for an industry in transition. M.B. Jenkins; E.T. Smith. Island Press. 356 pp. (1999)
http://books.google.com/books?id=N4omnNnzKooC&printsec=
frontcover&dq=The+business+of+sustainable+forestry:&hl=pt-BR&ei=
z3DOTquSJ-jh0QH_oo0J&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=
1&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=
The%20business%20of%20sustainable%20forestry%3A&f=falseGuidelines for developing, testing and selecting criteria and indicators for sustainable forestry management. R. Prabhu; C.J.P. Colfer; R.G. Dudley. The Criteria & Indicators Toolbox Series. CIFOR – Center for International Forestry Research. 183 pp. (1999)
http://ciifad.cornell.edu/downloads/ME_CIFORtoolbox.pdfMemória do 2º Workshop sobre Monitoramento Ambiental em Áreas Florestadas. IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais. (1998)
http://www.ipef.br/publicacoes/stecnica/nr31.aspMonitoramento florestal: iniciativas, definições e recomendações. L.C.E. Rodriguez. Série Técnica IPEF 12(31): 09 – 22. (1998)
http://www.ipef.br/publicacoes/stecnica/nr31/cap1.pdfMonitoramento de florestas plantadas no Brasil: indicadores sociais e econômicos. L.C.E. Rodriguez. Série Técnica IPEF 12(31): 23 – 32. (1998)
http://www.ipef.br/publicacoes/stecnica/nr31/cap2.pdfIndicadores de sustentabilidade das plantações florestais. F. Poggiani; J.L. Stape; J.L.M. Gonçalves. Série Técnica IPEF 12(31): 33 – 44. (1998)
http://www.ipef.br/publicacoes/stecnica/nr31/cap3.pdf
http://www.is.cnpm.embrapa.br/bibliografia/1998_Indicadores_
de_sustentabilidade_das_plantacoes_florestais.pdfIndicadores de sustentabilidade de florestas naturais. F.B. Gandara; P.Y. Kageyama. Série Técnica IPEF 12(31): 79 - 84. (1998)
http://www.ipef.br/publicacoes/stecnica/nr31/cap7.pdfCriteria and indicators for sustainable forest management: new findings from CIFOR’s forest management unit level research. R. Prabhu; C. Colfer; G. Shepherd. ODI Rural Development Forestry Network. 15 pp. (1998)
http://www.odi.org.uk/resources/download/762.pdfThe development of criteria and indicators for sustainable forest management. FAO – Food and Agriculture Organization. (1997)
http://www.fao.org/docrep/w4345e/w4345e0c.htm#the development of criteria and indicators for sustainable forest managementTesting criteria and indicators for assessing the sustainability of forest management: genetic criteria and indicators. G. Namkoong; T. Boyle; H.-R. Gregorius; H.l. Joly; O. Savolainen; W. Ratnam; A. Young. CIFOR – Center for International Forestry Research. 15 pp. (1996)
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP-10.pdfSustainable forest management: an analysis of principles, criteria and standards. R. Nussbaum; S. Bass; E. Morrison; H. Speechly. IIED – International Institute for Environment and Development. 131 pp. (1996)
http://pubs.iied.org/pdfs/8065IIED.pdfSustentabilidade florestal para um mundo sustentável. C. Foelkel. Website Grau Celsius. 08 pp. (s/d= sem referência de data)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/33%20final.doc

Eucalyptus Newsletter é um informativo técnico, com artigos e informações acerca de tecnologias florestais e industriais sobre os eucaliptos
Coordenador Técnico - Celso Foelkel
Editoração - Alessandra Foelkel
GRAU CELSIUS: Tel.(51) 3338-4809
Copyrights © 2009-2012 - celso@celso-foelkel.com.br
Essa Eucalyptus Newsletter é uma realização da Grau Celsius com apoio financeiro e técnico da ABTCP - Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. As opiniões expressas nos artigos redigidos por Celso Foelkel, Ester Foelkel e autores convidados bem como os conteúdos dos websites recomendados para leitura não expressam necessariamente as opiniões dos patrocinadores.
Caso você tenha interesse em conhecer mais sobre a Eucalyptus Newsletter e suas edições, por favor visite:
http://www.eucalyptus.com.br/newsletter.html
Descadastramento: Caso você não queira continuar recebendo a Eucalyptus Newsletter e o Eucalyptus Online Book, envie um e-mail para: webmanager@celso-foelkel.com.br
Caso esteja interessado em apoiar ou patrocinar a edição da Eucalyptus Newsletter, bem como capítulos do Eucalyptus Online Book - click aqui - para saber maiores informações
Caso queira se cadastrar para passar a receber as próximas edições dirija-se a:
http://www.eucalyptus.com.br/cadastro.html
